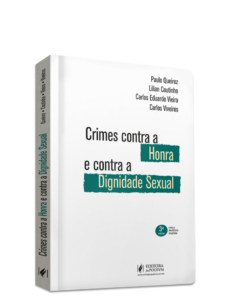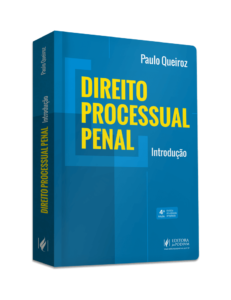1)Significado e implicações
O juiz natural (ou legal) é uma garantia fundamental destinada a evitar julgamentos injustos ou arbitrários, seja porque ditados por tribunais revolucionários ou por regimes de exceção1, seja porque proferidos por juízes ou tribunais ad hoc e post factum (instituídos para decidir determinados casos), seja porque emanados de autoridades sem competência jurisdicional (não juízes ou juízes incompetentes), seja porque prolatados por juízes parciais, impedidos ou suspeitos, seja porque não autorizados pelo ordenamento jurídico2.
Como escreve Germano Marques da Silva, o processo é um modo de heterocomposição de conflitos, razão pela qual é fundamental que o terceiro, o juiz, seja imparcial, o qual há de estar interessado apenas em fazer justiça. Nesse sentido, o juiz é um estranho em relação à acusação e à defesa, de modo que cumpre a sua função quando condena ou absolve, desde que o faça no estrito cumprimento do ordenamento jurídico3.
A razão do princípio é assegurar as condições de um julgamento justo, isto é, conforme a lei e proferido por autoridade judiciária competente, independente e imparcial. A finalidade do juiz natural é, pois, impedir a criação post factum ou a determinação discricionária do juiz competente4.
A Constituição, embora sem usar a expressão juiz natural, prevê que não haverá juízo ou tribunal de exceção e ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (CF, art. 5°, XXXVII e LIII).
Juiz natural (constitucional ou legal) é, em suma, o juiz constitucionalmente competente5. Não por outra razão, a Constituição consagrou diversos artigos ao poder judiciário e à competência dos juízes e tribunais (art. 92 e seguintes, entre outros), reconhecendo, ainda, a instituição do júri (art. 5°, XXXVIII), para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Além disso, assegurou aos juízes as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio (CF, art. 95), bem como estabeleceu diversas vedações, a exemplo da proibição do exercício de atividade político-partidária, tudo a preservar a independência funcional e a isenção dos julgamentos. Naturalmente que tais garantias e vedações constituem uma condição necessária, mas não suficiente, para ter-se um juiz imparcial, que é um atributo personalíssimo.
O princípio tem as seguintes implicações6: 1) só a lei pode definir o juiz competente (princípio da legalidade); 2) a definição legal do juiz competente deve ser anterior ao cometimento do crime (princípio da irretroatividade); 3) a determinação do juiz competente deve ser feita segundo critérios objetivos (daí a proibição de tribunais de exceção, para decidir certo caso ou certo grupo de casos, com violação das regras de competência).
Tampouco podem as partes escolher ou acordar sobre a escolha do juiz da causa, cuja designação se dará sempre na forma da lei e com base em critérios objetivos. Apesar disso, o Código de Processo Penal admite a recusa de até três jurados sem motivo declarado nos processos de competência do tribunal do júri (CP, art. 4687), implicando, de certo modo, uma escolha.
E de nada valeria o princípio da legalidade dos crimes e das penas se, não obstante isso, os juízes e tribunais pudessem ser designados arbitrariamente para decidirem sobre o crime e a pena. O juiz natural é, pois, uma dimensão essencial do princípio da legalidade penal.
Naturalmente que o juiz deve ser e parecer imparcial, agir com lealdade processual, ser discreto e evitar declarações públicas sobre as causas, especialmente quando ainda não julgadas8. Porque não basta fazer justiça; é preciso parecer que a justiça de fato foi feita9.
Naturalmente que a imparcialidade judicial depende também do modo como os juízes são escolhidos. Quão mais políticos ou partidários forem os critérios de seleção tanto menos confiáveis serão os juízes, razão pela qual devem ser selecionados, não de acordo com os serviços prestados a um partido ou governo, mas conforme o mérito e com base em critérios objetivos (concurso público etc.). Também por isso, a eleição de juízes não é um bom critério de seleção porque implica a máxima partidarização e politização da magistratura. O juiz já não decidiria de acordo com a lei, mas segundo a vontade do respectivo eleitorado.
Como ensina Germano Marques da Silva, a imparcialidade do juiz significa que ele não toma partido sobre os interesses que lhe são submetidos; é terceiro imparcial, alheio à solução da questão e estranho às razões da acusação e da defesa. O juiz há de apreciar e decidir as questões em exclusiva obediência à lei10.
Mas o que é o juiz imparcial? Antes de tudo, é o juiz que decide conforme a lei, e não segundo caprichos pessoais; que não tem prevenção contra as partes e é livre para decidir; é o que não incide em impedimento ou suspeição, e está disposto a ouvir e a refletir sobre as teses suscitadas, por mais absurdas; é o que não pretende ser amado por suas decisões, nem teme ser odiado por elas; é o que tem a coragem de sentenciar contra a maioria, decide segundo a prova dos autos e respeita o devido processo legal; é o que aprende com as críticas, é capaz de rever suas posições e recusar aplicação à lei arbitrária ou inconstitucional; é o juiz, enfim, que tem a pretensão de ser justo e não apenas legalista, que sabe que não está acima do bem e do mal e é passível de erros11.
E com exceção dos casos previstos em lei (audiência de conciliação das partes etc.), o juiz não pode aconselhar ou orientar as partes, recomendar esta ou aquela diligência, prestar auxílio à acusação ou lhe sugerir a melhor estratégia processual, tampouco antecipar ou combinar decisões com a acusação ou com a defesa etc. Juiz que assim procede é juiz suspeito e parcial, devendo ser afastado do processo.
2) Especialização de varas, desaforamento etc.
O princípio não é incompatível com a especialização de tribunais, câmaras ou varas, com o desaforamento, nem com a prerrogativa de função, desde que criados (ou extintos) na forma da lei e visem a melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Mas sempre se poderá questionar os fundamentos da especialização, do desaforamento ou da prerrogativa de função.
É perfeitamente justificável, por exemplo, que, se houver dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, o tribunal, atendendo a requerimento das partes (ou a representação do próprio juiz), determine o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região (CPP, art. 42712), já que o princípio se presta justamente a isso: assegurar o fair trail. O mesmo já não ocorre quanto às hipóteses de desaforamento para preservar a segurança pessoal do réu e por excesso de serviço (CPP, arts. 427 e 428), devendo o poder público assegurar a integridade física do acusado e agilizar a prestação jurisdicional sem sacrifício do princípio do juiz natural. Quanto ao desaforamento por “interesse da ordem pública”, trata-se de um grande ponto de interrogação, por se tratar de termo vago, arbitrariamente manipulável.
Também o incidente de deslocamento de competência (CF, art. 109, § 5º13), que é uma espécie de desaforamento com outro nome, há de ser admitido apenas para garantir a imparcialidade do julgamento num prazo razoável, se e quando ficar demonstrada a parcialidade do juiz natural.
Quanto à possível formação de colegiado de primeiro grau para o julgamento de crimes praticados por organização criminosa (Lei n° 12.694/201214), temos, primeiro, que decisões colegiadas são preferíveis àquelas tomadas por juiz singular; e, segundo, que a previsão legal não é, em princípio, incompatível com a garantia do juiz natural15. Apesar disso, a lei é criticável, quer porque não prevê critérios precisos para a instauração da turma julgadora, quer porque permite a formação de colegiado ad hoc e post factum, quer porque eventuais riscos à vida do juiz devem ser debelados pelos meios legais.
Havendo modificação das regras de competência (criação ou extinção de vara ou foro por prerrogativa de função, ampliação ou restrição da competência do tribunal etc.), a nova lei terá, como regra, aplicação imediata (CPP, art. 2°), não implicando violação ao princípio do juiz natural.16
Salvo os casos de impedimento, afastamento (etc.), o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença (CPP, art. 399, §2° – identidade física do juiz).
Finalmente, é comum falar-se, por analogia, de promotor natural17 (e mesmo defensor natural18), quando o que está em discussão é o cumprimento puro e simples do princípio da legalidade relativamente à atuação do Ministério Público, a evitar designações ou destituições arbitrárias de seus membros. Também porque os membros do MP são passíveis de arguição de impedimento e suspeição (CPP, arts. 104 e 112).
Com o uso do termo defensor natural quer-se designar uma das manifestações do direito de defesa: o direito do réu a uma defesa técnica competente e eficaz, realizada por advogado ou por defensor público. Aparentemente, o termo é desnecessário e a analogia com o juiz natural é forçada, tal como seria falar de delegado natural, perito natural etc.
3) Sistema acusatório: poderes instrutórios do juiz
O grau de isenção judicial depende também do papel e dos limites da atuação do juiz no processo. Um processo de tipo acusatório, que atribui a órgãos distintos e independentes as funções de acusar, defender e julgar, é preferível ao de tipo inquisitorial ou misto, que confere ao magistrado poderes mais ou menos amplos de investigação e de decretação de prisões etc. É essencial, ainda, que haja garantias mínimas de paridade entre acusação e defesa, de modo a se assegurar um processo formal e materialmente justo19.
Já vimos que um sistema acusatório não é necessariamente garantista, mas todo sistema garantista é forçosamente acusatório. Porque este é uma condição necessária, mas não suficiente, para um sistema garantista.
Com relação aos chamados poderes instrutórios do juiz (poder de determinar a realização de prova de ofício), se bem que, escrevendo a partir do processo civil, parece que Michelle Taruffo tem razão quando diz que não é exato que o juiz que exerce poderes instrutórios perde com isso sua imparcialidade. Isso ocorreria se ele exercesse seus poderes de modo parcial, ou seja, com o intuito de favorecer uma das partes; mas isso não acontece quando ele o exerce de modo imparcial, isto é, com o fim de obter conhecimentos relevantes e úteis para a apuração da verdade20.
Também Schünemann assinala que o juiz que presencia a instrução probatória como mero ouvinte e mudo espectador mantém-se excluído desse indispensável círculo de comunicação, de modo que seu entendimento torna-se gradativamente um incomensurável fator de acaso21.
De fato, não faz sentido impedir, em caráter absoluto, que o juiz possa determinar a realização de prova de ofício, transformando-o numa espécie de marionete manipulável pelas partes e apequenando sensivelmente a função jurisdicional. Aqui e alhures, convém evitar os extremismos.
Apesar disso, o juiz penal há de se valer de seus poderes instrutórios somente durante o processo, não na fase de investigação, como ainda admite o Código (art. 156, I22), e subsidiariamente às partes, e, de modo especial, para evitar condenações injustas.
1. Como escreveu Salvatore Satta: “Se o julgamento é julgamento, não é revolucionário; se o julgamento é revolucionário, não é julgamento”. O mistério do processo. Seqüência, no 60, p. 11-28, jul. 2010.
2. Ver Adelino Marcon. O princípio do juiz natural no processo penal. Curitiba: Juruá, 2004.
3. Direito processual penal português, v.1. Universidade católica editora: Lisboa, 2013, p.58.
4. Para Ferrajoli, para quem o princípio impõe a predeterminação de critérios rígidos e vinculantes de competência, de modo a excluir a escolha post factum do juiz ou tribunal, o principal problema atualmente do juiz natural diz respeito ao poder e evocação, isto é, ao perigo de prejudiciais condicionamentos dos processos por meio da designação hierárquica dos magistrados competentes para apreciá-los. Direito e razão. São Paulo: RT, 2014, p.545.
5. Mas isso não significa que só a CF possa dispor sobre competência. Como observa Gustavo Badaró (Processo penal. São Paulo: RT, 2015, p.46), o juiz natural não é somente o juiz constitucionalmente competente, mas também aquele cuja competência derive da lei ordinária ou das leis de organização judiciária. O que de fato importa é que a instituição da competência tenha amparo constitucional.
6. Jorge de Figueiredo Dias. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra editora, 1974, p. 322/323.
7Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa.
Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes.
8. Nesse sentido, dispõe o art. 35, VIII, da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica de Magistratura), que é dever do magistrado “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular”. E o art. art. 36, III, prevê que é vedado ao magistrado “manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério”.
9. Não por acaso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) tem insistido em que os julgamentos devem ser e parecer imparciais. Como observa Gustavo Badaró, um julgamento que toda a sociedade acredite se realizar por um juiz ou tribunal parcial pode ser tão ilegítimo quanto aquele realizado por um juiz comprometido com uma das partes, porque, como já decidiu o TEDH, não basta fazer justiça; é preciso parecer que a justiça de fato foi feita. Processo penal. São Paulo: RT, 2015, p.43.
10Direito processual penal português, v. 1. Lisboa: Universidade Católica, 2017, p.229.
11. Como escreve Francisco Muñoz Conde, os juízes, como todos os mortais, são sujeitos de carne e osso, com suas paixões e sentimentos, com seus defeitos e virtudes, e também com suas crenças e ideologias, por vezes contrárias às leis que têm de aplicar aos demais cidadãos. Por isso, cada vez que podem, e podem muito, procuram adotar a lei às suas crenças pessoais ou ao modo de ver as coisas. Tudo isso, certamente, dentro do mais escrupuloso respeito ao princípio da legalidade; de uma legalidade que, por sua própria ambiguidade e imperfeição, deixa ao juiz, paradoxalmente, uma grande margem para sua discrição e arbítrio, para suas paixões e crenças. Por mais estritas as regras e preceitos legais, ninguém pode negar ao julgador uma margem de liberdade em sua interpretação, uma projeção de sua subjetividade, e, com isso, toda uma carga emocional de sentimentos que lhe despertam o fato que há de julgar. Porque o ato de julgar, como todo ato valorativo, é um ato emocional, do qual não podem ser excluídos de modo absoluto os sentimentos e valorações. La búsqueda de la verdad en el proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, p.36/37.
12. Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
13. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
14. A lei supra dispõe (art. 1°) que em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual. E que o juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correicional.
15. Nesse sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira: “Em princípio, e desde que respeitadas as regras estabelecidas na Lei n° 12.694/12, a jurisdição colegiada ali instituída nada tem de inconstitucional, relativamente à suposta violação do juiz natural, na perspectiva da vedação do juiz ou tribunal de exceção (art. 5°, XXXVII, CF). Com efeito, trata-se de instância judiciária (o Colegiado) devidamente prevista em lei, com competência instituída antes da prática do delito, o que, por si só, já afastaria a exceção do tribunal, conforme consta da citada cláusula constitucional. E mais. O juiz do processo, isto é, o juiz legal (competência territorial) e constitucional (em razão da matéria), não será afastado do processo. Juiz ou Tribunal de exceção é aquele instituído para o julgamento de uma ou mais fatos, cuja instalação não só se opera após o fato, como também não se submete a quaisquer critérios legais previamente existentes. No tribunal de exceção, a exceção é da própria jurisdição; no Colegiado de primeiro grau, o que é excepcional é a circunstância de risco que lhe fundamenta a instauração”. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2017, p.842. Em sentido contrário, Aury Lopes Júnior: “Trata-se de uma autorização legal até então desconhecida pelo sistema nacional e que tem sido objeto de severas críticas, na medida em que pode representar a violação da garantia do juiz natural. Isso porque o órgão julgador tem que ser definido previamente à prática do crime. Ou seja, é a garantia de ser julgado por um juiz cuja competência é preestabelecida em lei e não por órgão colegiado criado ad hoc, ou seja, para aquele caso penal e aquele ato procedimental, conforme a discricionariedade de um outro juiz. Trata-se de uma medida de duvidosa constitucionalidade, no mínimo”. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2017, p.278/9.
16. Em sentido contrário, Fernando da Costa Tourinho Filho: “Para nós, uma competência atribuída post facto desnatura o princípio do Juiz natural, dando a transparecer tratar-se de Juiz ‘de encomenda’, ou se quiserem, Juiz ad hoc. Exemplo disso tivemos no conflito dos Sem-Terra e militares do Estado do Pará, quando militares, em situação de atividade, e fazendo uso de armas da corporação, mataram dezenas de pessoas. À época do fato esses crimes eram da alçada da Justiça Militar, nos termos do arts. 9°, II, b e f, do CPM e 125, §4°, da Constituição Federal. Pois bem. Em 1996 foi promulgada a Lei n° 9.299, que, dentre outras alterações, revogou a alínea f do inciso II do art. 9° do CPM e acrescentou um parágrafo ao citado dispositivo, dizendo que ‘os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, são da competência da Justiça Comum’. De imediato, aqueles processos foram remetidos à Justiça Comum. A nosso juízo, somente os fatos que sucedessem à Lei n° 9.299, de 7-8-1996, passariam para a competência da Justiça Comum. Aqueles cometidos sob a égide do Código Penal Militar, não. Não e renão. Contudo, não foi o entendimento que predominou”. Manual de direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2017, p.290/291. Discordamos do ilustre Tourinho Filho, visto que o tribunal do júri é um tribunal constitucional e já existia antes do cometimento do delito, logo, não é ad hoc ou post factum. Além disso, a redução da competência da justiça militar visava, justamente, a assegurar a isenção dos julgamentos, dada a frequente parcialidade da justiça militar. Por fim, a alteração da competência não implicou restrição de garantias, mas, ao contrário, ampliação, já que no Júri vigora a plenitude de defesa e regras especiais mais favoráveis ao réu.
17. Nesse sentido, Paulo Rangel. Direito processual penal. São Paulo: Gen/Atlas, 2016. Também Américo Bedê Júnior e Gustavo Senna. Princípios do processo penal. São Paulo: RT, 2009.
18. Nesse sentido, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. Curso de direito processual penal. Salvador: juspodivm, 2014.
19. A propósito do sistema inquisitorial, Franco Cordero escreve: De espectador impassível que era, o juiz se converte em protagonista do sistema. Mudam as técnicas; não há contraditório; tudo se realiza secretamente; no centro está, passivo, o investigado; culpado ou não, ele sabe algo e está obrigado a confessá-lo. A tortura estimula os fluxos verbais contidos. Soberano da partida, o inquisidor elabora hipóteses dentro de um marco paranoico: e assim surge o casuísmo impuro das confissões contra os corréus, as vezes obtidas com promessas de impunidade. De fato, um sistema legalmente amorfo, pois o segredo, esse método introspectivo e o compromisso ideológico dos que atuam excluem vínculos, formas e termos: o que conta é o resultado. Floresce uma retórica apologética cujos argumentos ressoam, com tais, em lugares e momentos distintos. Quanto ao desenvolvimento orgânico e à cínica sabedoria técnica, o estilo inquisitório chega ao apogeu na França com a Ordenança de 1670. Franco Cordero. Procedimiento penal, t. 1. Bogotá: Temis, 2000, p.19/20.
20. Michele Taruffo. Uma simples verdade – o juiz e a construção dos fatos. São Paulo: Marcial pons, 2012, p.146.
21. Schünemann, Bernd. Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p.249. No mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira: O segundo argumento é o de que, ao determinar de ofício a realização de prova, o órgão judicial abandona a posição, que lhe é característica, de terceiro imparcial, toma partido por um dos litigantes – por aquele a quem a prova irá favorecer. Mas, primo, o juiz não é advinho; não pode saber de antemão a qual dos litigantes será favorável o êxito da diligência probatória. Pense-se, por exemplo, numa perícia: se a ordena ex officio o órgão judicial, tanto pode acontecer que o laudo pericial favoreça o autor quanto pode acontecer que favoreça o réu. Conta-se, naturalmente, que a perícia – sob pena de frustrar-se – acabe por favorecer alguém, na medida em que esclareça o ponto obscuro; quem será esse alguém, no entanto, só depois de concluída a perícia é que se vai saber. Há mais. A supor-se que o juiz se torna parcial por ordenar ex officio a realização de uma prova, assim beneficiando a parte a quem ela resulte favorável, ter-se-á logicamente de entender que também a omissão em determinar a prova compromete a imparcialidade do juiz. É evidente, com efeito, que a falta da prova beneficiará a parte a quem ela resultaria desfavorável, caso se realizasse. Estará o juiz, então, condenado em qualquer hipótese à pecha de parcialidade? O absurdo da consequência põe a nu a falsidade da premissa. José Carlos Barbosa Moreira. O neoprivatismo no processo civil, in leituras complementares de processo civil. Salvador: juspodivmeditora, 2010, p.352.
22. Art.156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
![]()