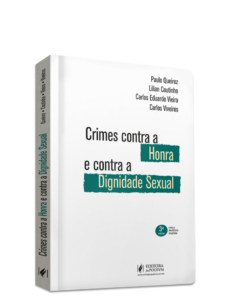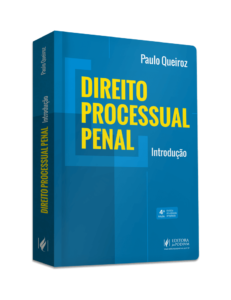Aprendi, nos primeiros anos de faculdade, que interpretar é dar ao texto legal seu correto significado, idéia que pressupõe a existência de um sentido prévio à interpretação mesma, sentido a ser descoberto por meio dos métodos de interpretação (lógico, teleológico, histórico etc.).
Logo pude pressentir, no entanto, sobretudo ao assistir a sessões do Tribunal do Júri, que algo havia de errado nisso: primeiro, porque o resultado dos veredictos dependia, grandemente, da performance dos oradores (promotores e advogados); se a norma, portanto, tinha algum sentido, tal não lhe era previamente dado, mas construído argumentativamente; e se múltiplas eram as formas de argumentar, múltiplas haviam de ser as possibilidades de interpretar corretamente1 . Segundo, porque também ali pude notar que, mais do que construir o sentido da norma, tratava-se de reconstruir os fatos e avaliar provas. Terceiro, porque o júri não era chamado a julgar conforme a lei, mas “de acordo com a consciência e os ditames da justiça” (CPP, art. 464), algo um tanto distinto. Quarto, porque, muito mais do que o fato, o júri julgava, sempre e inevitavelmente, as pessoas envolvidas no conflito (acusado e vítima): seu modo de ser, sua idoneidade, sua família, status etc. Quinto, admitindo que os métodos de interpretação tenham alguma relevância no direito, o júri – e os juízes de um modo geral – era livre para decidir sobre o método ou métodos a aplicar, pois não existe um método para a eleição do método (Lédio Rosa), razão pela qual, sob esse aspecto, decidir a lide não é propriamente um ato de verdade, mas de vontade (Radbruch).
Estava assim a me dar conta do óbvio: o crime – como de resto tudo que diz respeito ao homem – não está no fato em si, mas na cabeça das pessoas, vale dizer, o crime é socialmente construído, de sorte que a sentença penal era um momento culminante dessa construção social da realidade, não raro discriminatória e arbitrariamente seletiva. Percebia, por conseguinte, que, à interpretação jurídica – que no essencial não difere da interpretação sociológica, literária ou estética -, interessava, mais do que o objeto interpretado, a pessoa do intérprete, pois ele está co-implicado no processo interpretativo, e livre, realmente, é só quem se der conta disso (Arthur Kaufmann). Daí dizer Gadamer que a interpretação é um momento da experiência do homem no mundo, de tal modo que, não podendo o homem libertar-se de si mesmo, julga sempre conforme a sua formação: liberal, conservadora, reacionária etc. Numa palavra: a interpretação é uma fotografia da alma do intérprete!2 .
Tenho, hoje, pois, que uma boa interpretação, assim na música como no direito, mais do que técnica e razão, exige talento e sensibilidade3 . Não fosse assim, aliás, poderíamos substituir, em nome da “segurança jurídica”, os atuais juízes e membros do Ministério Público, por sofisticados programas de computador, abolindo, ainda, a figura do advogado.
Só agora, porém, tanto tempo depois de formado, é que me dou conta disso claramente, tal é a força do discurso jurídico dito dominante, que me fez acreditar, acriticamente, em tantas tolices ou metáforas hoje vazias de sentido, como aquela segundo a qual “o juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei” (Montesquieu).
Concluí, então, que hoje, como ontem, o decisivo não é a lei, mas o homem!
Notas de rodapé convertidas1. Como assinala Margarida Camargo, ao contrário das posições monolíticas, o que se aponta agora, sob o viés da pós-modernidade, é que, no lugar do universal, encontra-se o histórico; no lugar do simples, o complexo; no lugar do único, o plural; no lugar do abstrato, o concreto; e no lugar do formal, o retórico, Hermenêutica e Argumentação, p. 250, Ed. Renovar, Rio de Janeiro/S.Paulo, 2003.2. Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral, Saraiva, 2005.
3. Paulo Queiroz, idem.
![]()