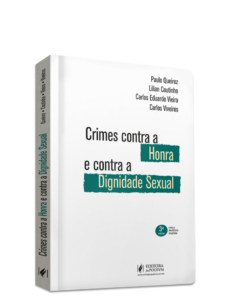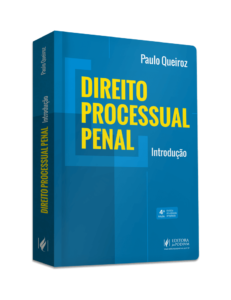TEMAS DE PROCESSUAL PENAL
1)Direito processual penal
Do ponto de vista legislativo, é relativamente fácil distinguir direito penal e direito processual penal: o direito penal é parte do ordenamento jurídico que define os crimes e comina as penas; e o processo penal, que é uma dimensão ou desdobramento do direito penal, é a parte do ordenamento jurídico que estabelece a forma e os meios de investigação, processamento e julgamento das infrações penais.
O artigo 121, caput, do Código Penal, por exemplo, ao definir o crime de homicídio simples (matar alguém) e cominar a respectiva pena (reclusão, de 6 a 20 anos), é uma norma penal; já o art. 4° do Código de Processo Penal é uma típica norma processual penal:
“A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.”
Simplificadamente, portanto, a legislação penal diz o que é crime e qual é sua pena, enquanto a processual penal diz como investigá-lo, processá-lo e julgá-lo legitimamente.
Além de definir crimes e cominar penas, o direito penal dispõe sobre os princípios fundamentais que regulam a atividade penal do estado e prevê os institutos indispensáveis ao exercício desse poder: crime, pena, dolo, culpa, autoria, participação etc.
De todo modo, a distinção é perfeitamente possível no plano da legislação. Mas mesmo aqui é possível questionar a natureza penal ou processual penal de certas normas, se penais ou processuais penais.
Afinal, também o Código Penal, que contém a legislação penal fundamental, prevê normas de caráter processual. De acordo com o artigo 100 do CP, por exemplo, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. E é pública condicionada quando a lei exige representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça.
Ademais, nem sempre é fácil distinguir normas penais de processuais penais, como as que dizem respeito: 1)à suspensão condicional da pena (CP, art. 107); 2)ao livramento condicional (CP, art. 83); 3)aos efeitos da condenação (CP, art. 91 e 92); 4)à reabilitação (CP, 93 a 95); 5)à extinção da punibilidade (CP, art. 107); 6)ao perdão judicial (CP, art. 120). A indicação poderia prosseguir, citando as figuras do agente infiltrado, da colaboração premiada, dos regimes de cumprimento de pena, da prescrição etc.
Esses institutos têm, no mínimo, conteúdo misto: penal, processual penal e/ou executório. Caberia referir ainda a reincidência e outros com tríplice repercussão: penal (individualização da pena), processual (decretação de prisões) e executória (progressão de regime).
Se é relativamente fácil, ou pensávamos que o era, distinguir direito penal de direito processual penal, de uma perspectiva dinâmica, porém, há uma tal interação entre os dois ramos do direito que a distinção parece inconsistente. Aqui a separação é mais aparente do que real.
É que o direito penal não é autoaplicável ou não é voluntariamente aplicável, ao contrário do que se passa no direito e processo civil. Porque somente por meio do processo é possível determinar se há ou não há um crime, quem é seu autor, se existe uma conduta típica, ilícita, culpável e punível. E, uma vez comprovada a punibilidade do crime, poder-se-á aplicar uma pena e submeter o condenado à sua execução forçada.
Não há, pois, crime sem pena, nem pena sem processo – nullum crimen, nulla poena sine iudicio. O processo é o processo de construção – ou desconstrução – jurídica do crime.
Daí dizer-se que entre direito penal e direito processual penal há uma relação de mútua referência e complementariedade funcional1: um e outro prestam-se à definição legal da culpa penal.
Com efeito, o crime não existe a priori, mas a posteriori, por meio do processo; o processo penal é, pois, o modo constitucionalmente legítimo de realização do direito penal. Realizar o direito não significa aqui condenar o réu, mas concretizar uma decisão justa, isto é, conforme a lei penal e as garantias do devido processo legal. Uma decisão justa pode, portanto, ter conteúdo variadíssimo: condenação, absolvição, anulação do processo, reconhecimento de prescrição etc.
Mas é importante perceber que, ao recorrer à dogmática penal e processual penal, o juiz não se limita a constatar um crime e aplicar-lhe uma pena, mas a construí-lo socialmente, afinal, o direito e, pois, o crime, não preexiste à interpretação, mas é dela resultado, razão pela qual a interpretação do fato punível não é um modo de constatar ou desvelar um direito ou um crime preexistente, mas a forma mesma de produção do direito e do crime. Porque o sentido das coisas (fatos, provas, textos etc.) não é dado pelas próprias coisas, mas por nós, ao atribuirmos um determinado sentido num universo de possibilidades – aí incluída a falta de sentido inclusive.
Assim, o processo, ao dispor sobre o modo como se dará a investigação, o processamento e o julgamento dos crimes, estabelece as condições de legitimação – e também de deslegitimação – da jurisdição penal, que é o poder de dizer o direito no caso concreto.
Nesse sentido, o processo penal é um continuum do direito penal, ou seja, é o próprio direito penal em ação, em movimento, razão pela qual formam uma unidade, um todo indissociável. Afinal, não há direito penal sem processo penal, nem processo penal sem direito penal.
Porque rigorosamente falando não existem fenômenos criminosos, mas uma interpretação criminalizante dos fenômenos.2 Consequentemente, não existem fenômenos típicos, antijurídicos, culpáveis e puníveis, mas uma interpretação tipificante, antijuridicizante, culpabilizante e punibilizante dos fenômenos.
A interpretação é, pois, o ser do direito; e o ser do direito é um devir. O direito, com ou sem alteração dos textos legais, está em permanente mutação. A rigor, o direito não está nos fatos nem nas leis, mas em nós. O direito é em nós que ele existe.
Em síntese, a concreta definição da culpa penal se dá no processo e por meio do processo.
Justamente por isso, a relação entre direito penal e processo penal não é apenas instrumental, mas substancial. Como ensinava Calmon de Passos, “não há um direito independente do processo de sua enunciação, o que equivale a dizer-se que o direito pensado e o processo do seu enunciar fazem um.”3
O processo, por sua vez, não pode traduzir o exercício arbitrário do poder de punir; deve antes consistir num procedimento dialético capaz de assegurar um confronto de teses e antíteses a um tempo franco, aberto e igual entre as partes. O due process of law, em suma.
Com efeito, o processo é uma espécie de arena onde devem ser asseguradas as condições de um combate justo e democrático, como pressupostos de validade e legitimidade. Terminada a disputa, o juiz declarará o vencedor e o vencido e as consequências jurídicas da contenda judicial, além de decidir sobre a própria regularidade da contenda.
Que resulta da unidade ou circularidade dessa relação?
Possivelmente o mais importante é que os princípios devem incidir de modo unitário, porque os princípios penais são princípios processuais penais e vice-versa. A vedação da prova ilícita e o princípio do juiz natural, por exemplo, não são senão o princípio da legalidade penal, embora com outro nome. E os princípios da intranscendência, nemo tenetur se detegere e ne bis in idem têm repercussão penal, processual penal e executória.4
O que muda é a intensidade e o modo como incidem em cada fase do processo e da execução penal. O princípio da verdade, por exemplo, comporta graus: a verdade que se requer para receber uma denúncia não é a mesma que se exige para a condenação. A verdade sofre ainda variações conforme o rito processual: ordinário, sumário e sumaríssimo.
Também não faz sentido tratar diversamente o princípio da irretroatividade da lei: quer se trate de norma penal, quer de norma processual, há de retroagir sempre que for mais favorável ao imputado, ainda que com alguns ajustes.
Ademais, os constrangimentos previstos na legislação processual jamais podem exceder àqueles que resultariam da própria condenação, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Assim, por exemplo, não é possível a prisão processual se a respectiva infração penal não cominar pena privativa da liberdade ou admitir a substituição por pena restritiva de direito.
Já o princípio in dubio pro reo, tradicionalmente associado à valoração da prova, é também um princípio penal porque constitui uma dimensão da presunção de inocência. Assim, quando houver fundada dúvida, por exemplo, sobre se há dolo, preterdolo ou culpa, deverá prevalecer a tese mais favorável ao réu.
E mais: é ônus da acusação, e não da defesa, fazer prova dos fatos alegados na denúncia/queixa, ou seja, é seu dever demonstrar o cometimento de uma infração penal punível com todos os seus elementos constitutivos (fato típico etc.). Não se prova a inocência, mas a culpa.
Por fim, também a execução penal, última etapa de realização do direito penal, há de reger-se pelos princípios constitucionais do direito e processo penal. Assim, modificações legislativas criadas em desfavor do condenado não podem atingir as condenações por crimes cometidos anteriormente à sua entrada em vigor, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais severa (v. g., uma lei que abolisse o livramento condicional deveria ser aplicada somente aos crimes cometidos posteriormente à sua vigência).
Em conclusão, e contrariamente à doutrina e à jurisprudência ainda hoje dominantes, os princípios penais são também aplicáveis ao processual penal e à execução penal e vice-versa, ainda que com graus diversos de incidência.
Afinal, direito penal, processo penal e execução penal constituem momentos de um mesmo fenômeno, que é a concretização e o exercício do poder punitivo estatal, destinados a legitimar/deslegitimar uma forma especial de violência: a pena, a qual pode variar de uma simples multa à pena de morte, que é uma espécie de assassinato legal.
Em suma, como têm uma fundamentação constitucional comum, os princípios contaminam todo o direito infraconstitucional, ainda que distintamente.
2)Revisão criminal
A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que visa a desconstituir, total ou parcialmente, a sentença penal condenatória (transitada em julgado) ou absolutória imprópria, que impõe medida de segurança ao inimputável. Destina-se, pois, a rescindir a coisa julgada em favor do condenado.
Apesar disso, figura, no Código de Processo Penal, impropriamente, no rol dos recursos (Título III, Livro II, capítulo VII, dos recursos em geral, arts. 621 a 631).
Nos termos do art. 623 do CPP, poderá ser proposta pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Como o artigo não o refere expressamente, parte da doutrina considera que o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizá-la em favor do réu.5
O equívoco é manifesto.
Com efeito, se tal posição fazia algum sentido no contexto político da promulgação do Código (ditadura Vargas), com a atual configuração constitucional (CF, art. 127), que confere ao Ministério Público status de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, é evidente que ele pode, sim, propor revisão criminal, para desconstituir sentença penal condenatória arbitrária, injusta ou ilegal, em favor do réu, especialmente se o membro do MP já houver se manifestado, em primeiro ou segundo grau, pela absolvição.
Se, com tão amplas e importantes funções, o Ministério Público pode pedir arquivamento de inquérito, propor rejeição da denúncia, requerer a absolvição sumária ou final, recorrer em favor do réu, impetrar habeas corpus e mandado de segurança, por que não poderia ajuizar revisão criminal? Por que uma ação que dispensa capacidade postulatória, podendo ser proposta pelo próprio réu, pessoalmente, não poderia sê-lo pelo Ministério Público?
Ademais, se o Ministério Público, seja como autor da ação penal pública, seja como custos legis na ação penal privada, convencer-se de que a condenação está fundada em prova falsa ou ilícita, não só pode, como deve, postular a revisão, sob pena de incidir em grave omissão. O Ministério Público não pode ser conivente com erro judiciário, ainda que, ao propor a ação penal e insistir na condenação, tenha concorrido para tanto.
Finalmente, o processo penal será mais democrático/garantista se, ao invés de restringirmos, ampliarmos o rol dos agentes com legitimidade para requerer a revisória.
Por último, a revisão criminal figura no rol dos recursos previstos no CPP, cujo art. 577 dispõe que “o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.”. Também o Código de Processo Civil (art. 487, III) reconhece-lhe legitimidade para propor a ação rescisória, legitimidade mantida no novo CPC (art. 967, III).
Evidentemente que o que não é possível é a revisão criminal pro societate, contra o réu, isto é, para rescindir sentença penal absolutória, por mais equivocada.
Admitida a revisão, oficiará como custos legis promotor/procurador diverso daquele que formulou o pedido revisional.
3)Abolição do parecer ministerial
Como se sabe, nas ações penais o Ministério Público é chamado a emitir parecer (em segundo grau) na condição de fiscal da lei ou custos legis, apesar de já figurar como seu autor, por força do que dispõe o art. 610 do CPP6, o qual visava, originariamente (ditadura Vargas), a concentrar, na figura do Procurador-Geral, o controle político da instituição.
Trata-se de anacronismo processual que deve ser superado. Sim, porque, embora plenamente justificável a emissão de parecer nos processos civis e penais em que não seja autor, nos temos da Constituição e da legislação em vigor, nada justifica a atuação como parecerista naqueles em que é.
Com efeito, essa pretendia distinção que legitimaria o parecer, entre parte e fiscal da lei, entre autor e custos legis, é inconsistente, visto que:
1)Fiscal da lei, ou, para ser mais exato, fiscal da Constituição (CF, art. 127), somos todos: juízes, promotores, serventuários etc.
2)Não é possível distinguir entre parte e fiscal da lei, porque, quando o Ministério Público é parte, é fiscal da lei, e quando é fiscal da lei, é parte7, pois, mesmo quando se manifesta nos processos que envolvem interesses individuais indisponíveis, como interveniente, o MP é a um tempo fiscal da lei e parte, podendo requerer a produção de prova, recorrer, agir com todos os ônus e privilégios das partes.8
3)A distinção pressupõe dualidade onde existe ou deve existir unidade. De fato, por ser instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado (CF, art. 127), a missão constitucional do MP, em todos os processos em que intervém, é sempre a mesma, independentemente de quem a represente (promotor público, procurador de justiça etc.) e da entidade ou grau de jurisdição em que atue (juízo, tribunal, conselhos). Além disso, por ser instituição una/indivisível, não é possível se fazer representar, autonomamente, por mais de um membro num só e mesmo processo, não raro para repisar os mesmos argumentos. Aliás, exatamente por isso, ninguém propõe que, na primeira instância ou nas ações penais originárias, por exemplo, atuem dois promotores/procuradores de justiça, um como autor da ação penal, outro como fiscal da lei.
4)Dir-se-ia que a situação na segunda instância é diferente: o procurador de justiça não ofereceu denúncia, não participou da instrução etc., e, por isso, exerceria semelhante munus mais isentamente. No entanto, a tese, além de questionável, dada a tendência natural de o procurador de justiça se aliar à tese do promotor, não justificaria, por si só, a intervenção em segundo grau, mesmo porque o dever de imparcialidade é comum a todos os seus membros, motivo pelo qual são passíveis de arguição de suspeição e impedimento (CPP, art. 104 e 112). Mais: a maior ou menor isenção é um atributo personalíssimo, que, como tal, varia de pessoa para pessoa, independentemente da posição em que é chamado a atuar no processo.
5)Nas ações penais públicas, o Ministério Público é sempre titular da ação – logo, parte, obviamente -, não cabendo falar de fiscal da lei, interveniente ou similar, ao menos para pretextar posição processual autônoma, até porque o termo “fiscal da lei” remete às próprias funções constitucionais e legais da instituição, e encerra, em última análise, uma tautologia. Não por acaso, nalguns países a instituição é chamada Ministério Fiscal ou Fiscalia, e seus membros são denominados fiscais.
6)Também por isso, é irrelevante a distinção – que não é de natureza constitucional, mas processual – entre parte e fiscal da lei, porque, ainda que não seja autor, o Ministério Público é sempre fiscal do ordenamento jurídico, motivo pelo qual a sua intervenção judicial ou administrativa sempre terá essa qualidade como pressuposto lógico inevitável.
7)A emissão de parecer em segundo grau apenas como custos legis ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando pede a condenação e traz novos fundamentos.
8)Trata-se de uma atividade burocrática desnecessária que retarda o andamento do processo indevidamente, e, pois, viola o princípio da razoável duração do processo.
9)Com alguma frequência gera manifestações contraditórias, não obstante a unidade da instituição.
10)O contexto histórico e político em que se deu a edição do artigo 610 do CPP está absolutamente superado. Também por isso, é cabível falar de não recepção pela nova ordem constitucional.
Conclusão: o parecer ministerial na ação penal pública pode e deve ser abolido.9
4)Erro sobre a pessoa e competência
O tratamento penal do erro sobre a pessoa tem também implicações de ordem processual penal, a exemplo de firmar a competência da justiça federal (CF, art. 109, IV), se, por exemplo, o agente, pretendendo atingir funcionário público federal no exercício de suas funções, atinge pessoa diversa/comum.
Ademais, há evidente ofensa a interesse da União, a atrair a competência federal.
Existe, porém, decisão do STJ proferida em conflito de competência em sentido contrário (nº 27.368-SP).
Também José Osterno de Campos Araújo considera que o tratamento penal conferido ao erro sobre a pessoa e à aberratio ictus não tem qualquer repercussão no âmbito do processo penal, por traduzir um problema específico de aplicação da pena.10
Não estamos de acordo com isso.
É que o tratamento legal resultante da adoção da teoria da equivalência relativamente ao erro sobre a pessoa e a aberratio ictus, importa, em verdade, em mudança da própria imputação jurídico-penal, repercutindo sobre a estrutura do crime e, pois, produzindo efeitos para além da individualização da pena.
Com efeito, havendo erro sobre a pessoa (em sentido amplo), o agente responde penalmente, não por ofender quem de fato quis, mas por ferir quem pretendeu ferir, embora sem sucesso, razão pela qual não são consideradas as condições pessoais da vítima real, mas da vítima potencial.
Exatamente por isso, o autor poderá, nesse contexto, alegar eventualmente excludentes legais de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, relativamente à vítima potencial. O mesmo ocorrerá com a acusação, que poderá, a partir dessas mesmas circunstâncias, rechaçar as alegações do réu. Assim, se A atira contra B, mas atinge C, por erro na execução, poderá suscitar, apesar disso, legítima defesa contra B (vítima potencial), e não contra C, estranho ao conflito.
Não se trata, portanto, de um simples problema de individualização da pena, mas de uma típica questão de teoria do delito, ligada à estrutura do crime e ao processo de imputação que dela resulta, com consequências, obviamente, também sobre a teoria da pena.
Além disso, não faria sentido algum que o direito penal e o processo penal tratassem diversamente esse assunto, ora afirmando uma coisa, ora outra, mesmo porque um e outro formam um continuum, conforme vimos.
Por fim, não é exato dizer-se que a competência é sempre firmada com base em critérios objetivos, independentemente da análise do elemento subjetivo do agente11. Basta lembrar, por exemplo, que só os crimes dolosos contra a vida – e não os culposos ou os preterdolosos – são de competência do tribunal do júri. A apuração do elemento subjetivo pode ser, portanto, essencial para a determinação da competência.
5)Impacto do novo CPC sobre o velho CPP – 1
Algumas disposições do novo CPC (Lei n° 13.105/2015) são aplicáveis ao CPP, por força do artigo 3° deste último:
Art. 3°. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.
A questão fundamental reside, pois, em saber quais inovações do novo CPC são compatíveis – e por que o são – com o processo penal.
Pois bem, temos que tudo quando significar, comparativamente com o CPP, aumento das garantias do réu, é aplicável ao processo penal. São-lhe também aplicáveis as normas que, embora não importem em aumento de garantias, estão em conformidade com os princípios constitucionais e processuais penais.
Contrariamente, sempre que houver incompatibilidade com as garantias que informam o processo penal democrático, por restringi-las ou aboli-las, não incidirão.
Pois bem, temos que incide sobre o processo penal boa parte dos artigos do LIVRO I, TÍTULO ÚNICO, CAPÍTULO I, mutatis mutandis.
Limitar-me-ei a referir os artigos 10 e 11, por considerar os mais importantes para o processo penal.
Pois bem, o art. 10 do novo CPC visa a evitar decisões que surpreendam as partes, invocando fundamento que nenhuma delas tenha suscitado, quer explícita, quer implicitamente, assegurando-lhes a máxima efetividade ao contraditório. Ei-lo:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Consequentemente, ainda que se trate de matéria conhecível de ofício (v.g., prescrição penal), é recomendável que o juiz criminal possibilite às partes manifestarem-se sobre o assunto.
O artigo em questão é especialmente importante nos casos em que o juiz vislumbrar a possibilidade de proferir sentença condenatória em desacordo com a denúncia ou as alegações finais produzidas pela acusação (emendatio libelli).
O art. 383, caput, do CPP12, deverá, portanto, ser interpretado em conformidade com a referida inovação do CPC, assegurando-se o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
Não há alteração quanto à mutatio libelli, de que trata o artigo 384 do CPP, porque este dispositivo já prevê semelhante providência.
Outro artigo relevantíssimo é o art. 11, caput, ou, mais exatamente, o art. 489, §1°, no que tange à fundamentação das decisões, os quais dispõem, respectivamente,
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(…)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
Mas o que vem a ser decisão fundamentada nos termos do novo CPC, que, em tese, presta-se a anular qualquer sentença, é melhor esperar o que dirão os processualistas civis.
Por fim, parece ser também aplicável ao processo penal o disposto no art. 219:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.
6)A mentira pode majorar a pena?
Há quem diga que sim, sob a alegação de que, ao mentir em juízo, o réu viola os princípios da boa-fé processual; logo, a pena seria majorável a título de personalidade e/ou conduta social.
A tese, porém, é de todo infundada, visto que: 1) Num sistema processual penal democrático o réu não pode ser coagido a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), razão pela qual pode se valer do direito ao silêncio, podendo mentir, inclusive (CF, art. 5°, LXIII)13; 2) O dever de dizer a verdade só pode ser imposto a testemunha, perito etc., os quais responderão, em tese, por crime de falso testemunho (CP, art. 34214); 3) O direito à ampla defesa permite a alegação de toda e qualquer tese, por mais inverossímil ou mesmo imoral; 4) A confissão é uma faculdade, e não uma imposição legal; 5) Mentir não é, em princípio, crime algum; tampouco a mentira pode justificar a aplicação de pena ou acréscimo de pena; 6) O só fato de mentir-se em juízo não diz absolutamente nada sobre a personalidade ou a conduta social do acusado; 7) A mentira não é condenável em si mesma, assim como a verdade não é em si mesma louvável, tudo dependendo do contexto e das motivações subjacentes15; 8) O interrogatório é essencialmente um meio de defesa.
Além disso, as atuais circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social são incompatíveis com um direito penal do fato (democrático), segundo o qual o agente deve responder pelo que faz e não pelo que é. Justamente por isso, o Projeto de Reforma do Código Penal (PLS nº 236/2012 do Senado Federal) prevê a abolição pura e simples dessas circunstâncias.
Como escreve Ferrajoli, não cabe ao juiz decidir sobre a moralidade, o caráter ou outros aspectos da personalidade do réu, mas apenas apreciar fatos penalmente proibidos, os quais são os únicos que podem ser provados pela acusação e refutados pela defesa. Não lhe é dado, por conseguinte, julgar a alma do imputado, tampouco formular juízos morais sobre a sua pessoa16.
6)Prescrição e decisão revocatória de sursis
A suspensão condicional do processo impede (isto é, suspende, não interrompe) a prescrição durante o período de provação (2 a 4 anos), conforme art. 89, §6°, da Lei n° 9.099/95. A prescrição não corre, portanto, enquanto o acusado estiver no gozo do benefício.
Num caso concreto o denunciado aceitou, em 27/08/2009, proposta de suspensão por dois anos, a qual foi revogada (em 31/03/2014) posteriormente ao decurso do prazo fixado, que se deu em 27/08/2011. Seguiu-se sentença condenatória a 1 ano de reclusão.
O motivo da revogação foi o fato de o réu passar a responder a uma outra ação penal, ainda que por infração anterior à SCP, cujas condições cumpria.
Pois bem, somando-se o prazo decorrido anteriormente à suspensão, cujo termo inicial é o recebimento da denúncia, àquele posterior à expiração do sursis processual, chega-se a um período de tempo superior a 4 anos, que é, na hipótese, o prazo prescricional. Afinal, antes decorrera 1 ano e 8 meses e após 3 anos e 9 meses, excedendo a 4 anos.
Não seria justo afastar-se a prescrição sob a alegação de que a decisão revocatória da SCP suspendeu o prazo prescricional até a data de sua prolação, em 31/03/2014, pois o cumprimento das condições se deu em 2011.
Além disso, o art. 89, § 6º, da Lei n° 9.099/95, é claro em afirmar que “não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”, que, no caso, foi de 2 anos.
A lei não diz que, revogado o benefício, a prescrição volta a correr a partir da decisão revocatória. É omissa.
A propósito, Renato Brasileiro de Lima considera que “caso o acusado dê ensejo à revogação da suspensão, a prescrição voltará a correr a partir da data da publicação da decisão determinando a cassação do benefício”17, isto é, março de 2014.
Mas semelhante posicionamento só faz sentido quando a decisão revocatória da SPC for proferida durante o período de provação, e não posteriormente a ele, como se deu no caso dos autos, seja porque a lei refere que a prescrição não correrá durante o prazo, seja porque, dada a omissão legal quanto ao tema específico aqui discutido, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao apelante (in dubio pro reo), seja porque, a rigor, este não deu causa à revogação, já que o crime que ensejou a nova ação penal (e revogação do benefício) é anterior à sua concessão, seja porque, afora isso, o denunciado cumpria as demais condições legais.
7)Retroatividade da lei processual penal e garantismo
Texto escrito em coautoria com Antônio Vieira, professor da UCSAL (Universidade Católica do Salvador).
7.1)Da irretroatividade da lei processual antigarantista.
É corrente dizer-se que a lei processual, diferentemente da lei penal, tem aplicação imediata, podendo “retroagir”18 mesmo em prejuízo do réu19. Pensamos, no entanto, que a irretroatividade da “lei penal” deve também compreender, pelas mesmas razões, a lei processual penal, a despeito do que dispõe o art. 2° do Código de Processo Penal, que determina, como regra geral, a aplicação imediata da norma, vez que deve ser (re) interpretado à luz da Constituição Federal20. Portanto, sempre que a nova lei processual for prejudicial ao réu, porque suprime ou relativiza garantias – v.g., adota critérios menos rígidos para a decretação de prisões cautelares ou amplia os seus respectivos prazos de duração, veda a liberdade provisória mediante fiança, restringe a participação do advogado ou a utilização de algum recurso etc. -, limitar-se-á a reger os processos relativos às infrações penais consumadas após a sua entrada em vigor; afinal, também aqui – é dizer, não apenas na incriminação de condutas, mas também na forma e na organização do processo –, a lei deve cumprir sua função de garantia21, de sorte que, por norma processual menos benéfica, se há de entender toda disposição normativa que importe em diminuição de garantias, e, por mais benéfica, a que implique o contrário: aumento de garantias processuais.
E assim deve ser, inclusive por força da crescente utilização do direito processual penal – sismógrafo da Constituição do Estado22 – como instrumento de uma política criminal eficientista, que, a pretexto de maximizar o controle da criminalidade, vem de minimizar garantias. Afinal, mais até do que o próprio direito penal e suas sanções, o processo – já contaminado de conteúdo material e por vezes almejando fins próprios da pena – passou a ser o braço armado do Estado por excelência, vez que é por meio de intervenções processuais que ordinariamente se dá a primeira ‘resposta efetiva’ à prática do crime, quase sempre via prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública23.
E se a realidade desvela a utilização do processo como instrumento de uma política criminal dirigida ao recrudescimento do sistema penal, também por essa razão se há de estender às normas processuais a irretroatividade da lei penal mais severa, até porque, como assinala BINDER, quer se trate de normas materiais, quer de normas formais, sempre haverá o interesse comum de limitar o arbítrio do Estado no exercício do poder punitivo, excesso que pode se dar tanto “pela manipulação na configuração de delitos como – muito mais ainda – pela forma como está estruturado o processo”24.
Exemplos disso – uso do processo penal em favor de uma política criminal eficientista – são as disposições processuais relativas à prisão e liberdade provisórias inseridas na Lei de crimes hediondos (8.072/90), a proibição de apelar em liberdade da Lei de Crimes Organizados (9.034/95), a aplicação do art. 366 do CPP esboçada pela Lei de Lavagem de Capitais (9.613/98)25 – reveladora da existência de um “processo penal do inimigo”, porquanto pautada numa idéia de que “os acusados pelos delitos de lavagem não constituem parcela da população brasileira que mereça a proteção do Estado, tal como assegurada pela norma de suspensão”26 – e, ainda, o Projeto de Lei 282/2003, em trâmite no Senado Federal, que pretende que acusados de crime organizado ou tráfico de drogas tenham suas defesas patrocinadas exclusivamente pela Defensoria Pública, salvo quando comprovem, mediante declaração de imposto de renda, possuir recursos lícitos para constituir advogado de sua confiança, tudo a demonstrar quão imperiosa é a necessidade de conferir também à lei processual a garantia de irretroatividade lei mais gravosa.
Cumpre notar, por último, que nem sempre é fácil distinguir norma penal de norma processual penal, não sendo infreqüentes confusões no particular, a exemplo do que sucedeu com o STJ, que, contraditoriamente, já considerou ser a vedação da liberdade provisória da Lei de Crimes Hediondos norma processual (pelo que teria aplicação imediata)27, e norma penal (entendendo não poder incidir em processos por crime perpetrado antes da Lei 8.072/90)28.
É bem verdade que parte da doutrina procura sanar os inconvenientes da aplicação imediata da norma processual antigarantista desviando o foco para a questão da constitucionalidade, como faz TOURINHO FILHO, argumentando que “se a lei processual penal coarcta a Defesa, suprimindo, por exemplo, recurso, proibindo-lhe esta ou aquela prova, obstaculizando, enfim, aquela ampla defesa a que se refere a Lei da Leis, é óbvio que tal norma não poderá ter aplicação. Não pelo fato de ser severa, que seria irrelevante, mas pela circunstância de ser supinamente inconstitucional”29. E há ainda quem, por diferentes fundamentos, ressalve da regra da aplicação imediata apenas as normas processuais que disponham sobre a liberdade pessoal do acusado30, atribuindo efeitos perenes ao disposto no art. 2º da LICPP.
Em ambos os casos, no entanto, resolve-se de modo apenas parcial, e, pois, insatisfatoriamente, os problemas aqui indicados. Primeiro, porque nem toda inconstitucionalidade é assim declarada pelos tribunais31; segundo, porque nem toda alteração processual que relativize garantias é necessariamente inconstitucional, a exemplo de norma que amplie para 70 dias o prazo de duração da prisão temporária; que, em “homenagem” à soberania dos veredictos, torne irrecorríveis as decisões do Tribunal do Júri, quando o fundamento for a sua manifesta contrariedade à prova dos autos; que revogue o art. 336 do CPP, revigorando a possibilidade de ser o réu processado mesmo em sua ausência32; ou ainda, revogue o art. 188 do CPP, com nova redação dada pela Lei 10.792/2003, subtraindo a possibilidade de a acusação e defesa formularem perguntas no interrogatório33 etc.; terceiro, porque, conforme se infere dos três últimos exemplos, os problemas atinentes às normas processuais antigarantistas não são exclusivos da prisão provisória.
Por tudo isso é que não se pode prescindir da irretroatividade da lei processual mais gravosa sempre que haja alteração político-criminal do processo em desfavor do acusado. No particular, é de todo irrelevante, portanto, a mui recorrente distinção entre lei penal e lei processual penal, uma vez que ambas cumprem a mesma função político-criminal, de garantia do mais débil (o acusado) frente ao mais forte (o Estado), além do que o Direito é uno, não podendo, por isso, ser garantista num momento (penal) e antigarantista noutro (processual). Dito de outro modo: no que toca ao tema da retroatividade da lei, o que importa, numa perspectiva garantista, não é a natureza jurídica da norma – se penal, se processual penal –, mas o grau de garantismo que encerra. Afinal, tanto a infração penal quanto o modo de comprovação de sua existência e aplicação da pena têm de vir previstos antes do fato que motivou a intervenção jurídico-penal, a fim de que o cidadão saiba claramente o que deve e o que não deve fazer, como também o que será sancionado, quais são as limitações do juiz e quais são suas garantais no processo penal34. Ou seja: as “regras do jogo” hão de ser conhecidas antes mesmo de seu início, as quais não poderão, por isso, ser modificadas depois de iniciado, salvo, obviamente, para favorecer o réu.
7.2. Da retroatividade da lei processual mais garantista/benéfica.
Contrariamente, sempre que a lei processual dispuser de modo mais favorável ao réu – v.g., passa a admitir a fiança, reduz o prazo de duração de prisão provisória, amplia a participação do advogado, aumenta os prazos de defesa, prevê novos recursos etc. – terá aplicação efetivamente retroativa. E aqui se diz retroativa advertindo-se que, nestes casos, não deverá haver tão-somente a sua aplicação imediata, respeitando-se os atos validamente praticados, mas até mesmo a renovação de determinados atos processuais, a depender da fase em que o processo se achar. Neste exato sentido, ressalta BINDER, tendo como premissa um modelo processual onde seja vedado ao réu consultar seu advogado antes de ser interrogado e a entrada em vigor durante o processo de norma que lhe assegure tal prerrogativa, que “esse acusado teria direito à renovação do ato já realizado para completá-lo de acordo com as novas normas, que dão maiores garantias. E seria o segundo depoimento – não o primeiro – que teria valor.”35
Assim deveria também ocorrer com os processos ainda não sentenciados36, por exemplo, quando da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, que ajustou o procedimento do interrogatório ao sistema constitucional, exigindo a presença do defensor, assegurando a entrevista prévia entre este e o acusado, permitindo as reperguntas etc., impondo-se a renovação do ato, mesmo que praticado em consonância com o modelo vigente à época de sua realização37.
7.3. Da aplicação imediata das normas “neutras”. Das normas de conteúdo misto.
Tratando-se de normas meramente procedimentais que não impliquem aumento ou diminuição de garantias, como sói ocorrer com regras que alteram tão-só o processamento dos recursos, a forma de expedição ou cumprimento de cartas rogatórias etc. -, terão aplicação imediata (CPP, art. 2°), incidindo a regra geral, porquanto deverão alcançar o processo no estado em que se encontra e respeitar os atos validamente praticados.
Finalmente, cuidando-se de normas de conteúdo misto – em parte favorável ao réu e em parte não – vale a mesma disciplina destinada à irretroatividade da lei penal, sendo também admitida a combinação entre as normas, desde que não sejam incompatíveis, de modo a assegurar a irretroatividade de normas mais severas e permitir a retroatividade das mais favoráveis. Assim, diante de norma processual que limitasse a decretação da prisão temporária aos réus acusados de integrar organização criminosa e, de outro lado, ampliasse seu prazo de duração, cumpriria aplicar imediatamente a primeira parte (pondo em liberdade todos os presos temporários não relacionados com o crime organizado) e irretroativamente a segunda (é dizer, havendo ultra-atividade da lei anterior).
Mas não sendo isso possível, em razão do caráter unitário da alteração levada a efeito, a eleição da norma aplicável ao caso deverá ter em conta o significado político-criminal prevalecente da reforma para os interesses concretos do acusado. Exemplo disso, foi dado pela Lei 9.271/96, que modificou a redação do art. 366 do Código de Processo, haja vista que, enquanto a parte relativa à suspensão do processo é favorável ao réu, por implicar aumento de garantia, a parte alusiva à suspensão do prazo de prescrição lhe era prejudicial, pois antes a prescrição corria normalmente. Num tal caso, a combinação de normas é impossível, vez que a suspensão do prazo prescricional pressupõe, logicamente, a suspensão do processo. Daí ter decidido o STF, corretamente, que a reforma introduzida pela Lei 9.271/96 era irretroativa, pois no todo era nociva aos interesses do acusado.
7.4. Irretroatividade das normas de execução penal
O mesmo se deve dizer, evidentemente, quanto à lei de execução penal, porque também aqui se trata de preservar o caráter garantidor do princípio da legalidade em seus vários momentos de concretização (cominação, investigação/aplicação e execução da pena), de modo que sempre que as modificações forem prejudiciais ao sentenciado não poderão retroagir, só incidindo, em conseqüência, sobre a execução penal relativa às condenações por crimes consumados após a sua entrada em vigor. Assim há de suceder com a Lei 10.792/2003, que, alterando a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), introduziu (art. 52) o regime disciplinar diferenciado38.
Como é sabido, por meio dessa alteração legislativa, instituiu-se a possibilidade de endurecer o cumprimento da pena ou as condições do preso provisório, sujeitando-os a condições extremamente penosas39. Com efeito, havendo em tais casos evidente alteração na orientação político-criminal que antes norteava a situação do preso, provisório ou definitivo, é de se reconhecer, por tudo que já foi dito, que tal regime, caso não seja declarada sua inconstitucionalidade, somente poderá ser imposto àqueles que cometeram delito – não só o delito constitutivo da falta grave, como também o que for objeto da sentença condenatória – posteriormente à sua entrada em vigor, e não antes, sob pena de violação do princípio da legalidade da pena.
Aliás, aqui, mais do que no processo de conhecimento, importa respeitar o aludido princípio, pois é na execução penal em que se verifica, ordinariamente, o maior déficit de proteção jurídica (menor grau de garantismo), tal é a relativização ou inexistência mesma das garantias (contraditório, defesa técnica por advogado etc.) que o informam. E onde há maior vulnerabilidade, maiores devem ser os níveis de tutela legal (maior grau de garantismo), conforme o princípio da proporcionalidade.
8)Crítica da razão cautelar
De acordo com a doutrina dominante, o processo cautelar visa a proteger, não o direito material das partes, mas o processo mesmo.40
Mas semelhante perspectiva é inconsistente.41
Primeiro, porque tutelar o processo é proteger, em última análise, o próprio direito em que se funda a cautela, ainda que mediatamente. Ademais, se o processo não é um fim em si mesmo, e sim um meio a serviço de um fim, que é a realização do direito justo, também o é a medida cautelar que vise a tutelá-lo preventivamente. Afinal, não se protege o processo pelo processo, cegamente.
Segundo, porque, se entendermos cautela (apenas) como proteção do processo e não do direito material, quer imediata, quer mediatamente, então teremos de concluir que quase nenhuma das atuais medidas cautelares penais reveste-se de efetiva cautelaridade. Além disso, se considerarmos que cautelaridade é sinônimo de constitucionalidade, tais providências seriam inconstitucionais, e não só a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como sustenta parte da doutrina.42
Com efeito, quanto à prisão preventiva por conveniência da instrução criminal (tutela da prova etc.), trata-se de medida substituível (em tese) por outros meios que não a prisão (v.g., produção antecipada de prova). Ademais, tutelar a prova significa tutelar o suposto direito que nela se funda, inevitavelmente.
No que se refere à aplicação da lei penal, a eventual fuga do réu do distrito da culpa não produz, em princípio, dano algum ao processo, que seguirá seu curso normal ou será suspenso, a depender do estado em que se encontre.
Finalmente, a prisão para garantia da ordem pública visa a evitar a reiteração de crimes, e não a assegurar a utilidade do processo, razão pela qual o que está em causa não é a possibilidade de dano processual, mas a prevenção especial (neutralizar o criminoso etc.).
Também as atuais medidas cautelares diversas da prisão, que se prestam a fins claramente preventivos individuais, em especial as previstas no 319, incisos II, III, V, VI, VII, IX, do Código de Processo, careceriam de cautelaridade, visto que pretendem proteger a vítima ameaçada, fazer cessar a atividade criminosa, monitorar o réu etc.
No contexto atual, tutelar o processo não é, por conseguinte, um dado essencial, mas acidental, secundário.
Em suma, o conceito de cautelaridade ainda hoje dominante é obsoleto e já não serve quer para legitimar, quer para deslegitimar as atuais medidas cautelares reais e pessoais. A rigor, uma teoria das medidas cautelares penais está por ser escrita, portanto.
E essa teoria haverá de ser construída levando-se em conta, além dos princípios que informam o processo penal, a singularidade, a diversidade e o caráter heterógeno das medidas cautelares tanto reais quanto pessoais.
E talvez tenhamos de começar do ponto zero, visto que a sofisticada teoria da cautelaridade produzida pela doutrina processualista civil contemporânea é em grande parte inaplicável ao processo penal, seja porque se presta a fins diversos, seja porque, também por isso, não existe, no processo penal, processo cautelar, ação cautelar, poder geral de cautela etc., seja porque distintos são seus pressupostos e requisitos.
9)Denúncia anônima
A doutrina e a jurisprudência divergem sobre a validade de investigações iniciadas a partir de delatio criminis sem identificação do seu respectivo autor – mais conhecida como denúncia apócrifa ou anônima. Para firmar a invalidade, os autores invocam, em geral, o art. 5°, IV, da Constituição, que veda o anonimato (art. 5º, IV).43 E no sentido da legitimidade das investigações, é comum recorrer-se ao princípio da proporcionalidade.44
Temos que a discussão parte, em verdade, de um mal-entendido.
É que o problema da assim chamada denúncia anônima não está no próprio anonimato, mas na eventual ausência de indícios de prova que a amparem (ausência de justa causa). Noutras palavras: ao menos para efeitos penais, o anonimato é, por si só, irrelevante.
Com efeito, se a autoridade policial, nos crimes de ação pública incondicionada, pode instaurar inquérito de ofício (CPP, art. 5°, §3°45), independentemente de notícia de quem quer que seja, é evidente que poderá fazê-lo sempre que for provocado, pouco importando se quem o faz se identifica ou não. Ou seja, se a autoridade policial pode agir de ofício, segue-se que, se o fizer instado por uma delação anônima, isso em nada comprometerá a legalidade de sua atuação.
O que a autoridade policial não poderá fazer é dar início a um inquérito policial a partir de delação de crime manifestamente infundada (anônima ou não).46 Mas isso, obviamente, nada tem a ver com o anonimato, e sim com o fato de uma investigação policial implicar, ordinariamente, constrangimentos graves à liberdade do investigado, razão pela qual não pode resultar de puro capricho ou arbítrio de quem a preside, devendo, por isso, fundar-se em indícios de verossimilhança.
Enfim: ao menos para efeitos penais, o eventual anonimato da delatio criminis é algo secundário, uma vez que o problema fundamental não reside no anonimato mesmo, mas na prudência e legalidade da atuação da autoridade competente, que não pode agir senão com base na lei e sempre que verificada a procedência das informações (CPP, art. 5°, §3°).
Exatamente por isso, é perfeitamente possível que, a partir de uma delação anônima de crime de bigamia, por exemplo, instruída com as certidões dos respectivos casamentos, a autoridade policial instaure o respectivo inquérito; que apure extorsão mediante sequestro a partir de informação precisa sobre o fato noticiado; que investigue, enfim, toda e qualquer infração sempre que houver fundadas razões para tanto.
Quanto à vedação constitucional do anonimato, que existe entre nós desde a Constituição de 1891 (art. 72, §12), ela nada tem a ver com a apuração de crimes ou com o exercício da ação penal, que têm, igualmente, assento constitucional, mas com a proteção mesma da liberdade de pensamento, visando a assegurar a eventual responsabilização civil e penal de quem, a pretexto de exercê-la, viole direito de terceiro.47
Não obstante isso, o Código Civil (art. 19) assegura o direito ao uso de pseudônimo48, a demonstrar que o anonimato, quando para fins lícitos, é absolutamente legítimo.
E mais: a investigação policial pode eventualmente se justificar para também apurar conduta do suposto autor da delação anônima, sempre que for suspeito de crime. E o autor mendaz (anônimo ou não) sempre poderá responder penalmente, nos termos do arts. 339 (denunciação caluniosa) e 340 (falsa acusação de crime) do Código Penal.49
Para fins penais, o anonimato é legítimo também porque é dever das autoridades competentes investigar crimes independentemente de quem seja o respectivo autor da delação, especialmente nos casos em que a sua identificação ou a divulgação de seu nome significar graves riscos à sua vida ou integridade física. Imagine-se, por exemplo, o caso do policial que delata a existência de grupo de extermínio formado por colegas e superiores seus.
Não é por acaso, portanto, que o art. 13, §2°, da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção (entre outros documentos internacionais), prevê, expressamente, que os países signatários, entre os quais o Brasil, promovam medidas para viabilizar a denúncia anônima.50
Em suma, o problema da delação anônima de crime não é o anonimato, mas a sua possível inverossimilhança e a possibilidade de deflagrar investigações e constrangimentos (ilegais) manifestamente infundados.
Finalmente, se se entender, como pretendem alguns julgados, que o problema da delatio criminis anônima está no próprio anonimato, então não só o inquérito, mas toda e qualquer diligência ou investigação que dela resultar deverá ser considerada ilegal, inclusive porque o inquérito constitui o instrumento jurídico-processual por excelência de investigação. Afinal, já não estará em jogo o problema da justa causa, mas o suposto peccato originale da inconstitucionalidade do anonimato.
10)Como redigir uma denúncia
Por ser uma peça técnico-jurídica importantíssima no processo penal, por cujo meio o Ministério Público formaliza a acusação, a DENÚNCIA deve ser redigida com o máximo rigor e cuidado. Por isso:
1)Deve ser utilizada a linguagem técnico-jurídica, razão pela qual o autor do fato deve ser chamado de “denunciado”, “acusado”, “imputado” etc., e não “meliante”, “elemento”, “celerado”, “facínora” etc. Tampouco é recomendável o uso de alcunha (v.g., “maníaco do parque”, “bandido da luz vermelha”), exceto se indispensável à contextualização. Nem convém adjetivá-lo (v.g, “o imoral”, “o perverso”, “o escroque”).
2)Havendo concurso de agentes, convém citar cada um dos denunciados nominalmente sempre (o réu fulano de tal), evitando-se fórmulas que dificultem ou confundam a leitura, tais como: “o primeiro denunciado”, o “último denunciado”, “este denunciado”, “aquele denunciado”, sobretudo quando forem muitos os réus.
3)Cada conduta deve ser clara e precisamente individualizada, inclusive nos chamados crimes societários.
4)Na descrição dos fatos devem ser citados, explicitamente, os elementos/requisitos dos tipos penais que estão sendo imputados. Assim, por exemplo, se o crime for doloso, deve ser referido que o réu agiu dolosamente; se culposo, cumpre referir a imprudência etc.; assim também, se o tipo fizer alusão a algum fim especial de agir, com “o fim de obter vantagem indevida”, ou elemento normativo (v.g., “falsamente”, “indevidamente”). A narração dos fatos deve também referir as qualificadoras, causas de aumento, agravantes etc. Idem, quanto à configuração de concurso material, formal ou continuidade delitiva. Não basta a simples referência no final do texto dos artigos e incisos violados.
5)A denúncia não deve conter nada além da acusação mesma. Consequentemente, pedidos de arquivamento, de diligência, pronunciamento sobre medidas cautelares (sequestro, prisão etc.), arguição de prescrição etc., devem ser feitos numa cota à parte, separadamente.
6)Convém evitar citações de trechos de depoimentos e perícia, bastando, em princípio, a referência às páginas dos autos que dão suporte às afirmações feitas. A denúncia não deve ter forma e conteúdo de alegações finais.
7)Não convém precipitar discussões sobre possíveis alegações da defesa.
8)Não deve referir/inventar circunstâncias inexistentes, desconhecidas ou juridicamente irrelevantes.
9)A linguagem deve ser a mais clara e precisa possível, evitando-se inversões de frases, expressões estrangeiras etc., exceto quando inevitáveis. A denúncia é uma peça técnica e não um texto literário.
10)Devem ser evitados pronomes de tratamento e títulos (v.g., o “dr. Fulano, agora denunciado”, “o ilustre denunciado”), exceto quando forem absolutamente necessários para a descrição e compreensão dos fatos.
11)Deve estar rigorosamente conforme os elementos de prova produzidos no inquérito policial ou similar.
12)Deve ser precisa na capitulação jurídico-penal dos fatos, evitando-se excessos (para mais ou para menos). Assim, por exemplo, se descreve, precisamente, uma injúria, não deve capitular o fato também como difamação e calúnia.
13)Deve ser redigida em termos persuasivos, evitando-se afirmações contraditórias ou que de algum modo a desacreditem ou demonstrem hesitação. Assim, por exemplo, se o réu está sendo acusado de homicídio, não faz sentido afirmar que “o denunciado teria matado a vítima”; “talvez tenha matado a vítima”; “parece que o réu não agiu em legítima defesa” etc., sugerindo que o caso seria (possivelmente) de arquivamento.
14)Não convém citar doutrina e jurisprudência no corpo da denúncia. Admite-se, no máximo, referência em nota de rodapé. Assim, por exemplo: “No sentido de que o crime é permanente, HC n°…”.
15)A denúncia deve mencionar: quem, o que, quando, onde e como os fatos foram praticados.
11)Colaboração premiada e moral
Todos os meios pelos quais, até hoje, quis-se tornar moral a humanidade foram fundamentalmente imorais. Nietzsche. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo: Companhia das letras, 2006, p.53.
Alguns autores têm que o instituto da colaboração é imoral por premiar um traidor, razão pela qual seria incompatível com o ordenamento jurídico, pois fomentaria uma conduta moralmente reprovável.
A tese é inconsistente, porém.
Com efeito, a colaboração premiada não é outra coisa senão uma confissão, embora com outro nome e com uma disciplina jurídico-penal própria, especial. E a confissão é tão legítima quanto qualquer outro meio de prova. Afinal, o investigado ou acusado, no exercício da ampla defesa, tem o direito de confessar – ou não confessar – o delito, com todas as suas circunstâncias, mencionando coautores e participes do crime, inclusive. O que não seria possível, moral ou juridicamente, é coagir o réu a confessar um crime ou proibi-lo de livremente confessá-lo.
Além disso, não existe um sistema moral universal/objetivo que valha para além da história e dos indivíduos concretamente considerados. Como disse Nietzsche, não existem fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral dos fenômenos (Além do bem e do mal, aforismo 108). Justamente por isso, se, da perspectiva dos criminosos, há (ou não) uma traição por parte do delator, o mesmo já não ocorre do ponto de vista do Estado, que vê na sua iniciativa uma legítima colaboração no sentido de prevenir e reprimir crimes. De mais a mais, a “ética do crime” é um problema de e entre criminosos e não um problema do Estado.
Mesmo em relação à “ética do crime”, o delator não é, ou não é forçosamente, um traidor, sobretudo quando estiver sofrendo ameaças e o “dever de lealdade e silêncio” lhe for prejudicial. Por vezes, delatar comparsas é necessário e requer coragem.
Não bastasse isso, de acordo com a moral dominante, o indivíduo tem o dever de dizer a verdade, tanto que a lei, que o obriga a isso (art. 4°, §14, da Lei 12.850/2013), criminaliza a colaboração caluniosa (art. 19 da Lei).
Ademais, direito e moral não de confundem, nem o direito é necessariamente moral, afinal nem tudo que é lícito é honesto/moral (Paulo – Digesto). Exatamente por isso, o ordenamento jurídico é pleno de institutos questionáveis do ponto de vista moral que nem por isso são ilegítimos, a exemplo da pena de morte, do aborto legal, do agente infiltrado, da tributação de atividades ilícitas (pecunia non olet) etc.. Em suma, a eventual imoralidade de um instituto jurídico não lhe afeta a juridicidade.
Finalmente, testemunhas e informantes também delatam, e nem por isso as criticamos moralmente.
Por último, premiar – ou não – a colaboração é uma opção político-criminal legítima.
Em conclusão, dizer-se que o delator é um traidor, ou que o é invariavelmente, é um clichê que traduz um simples preconceito moral, e que de nenhum modo compromete a legitimidade da colaboração.
12)Jurisdição penal indígena
De acordo com a visão tradicional, ainda hoje dominante, o índio responde penalmente, quando culpável, nos termos da legislação penal em vigor.51
A tendência atual, no entanto, é reconhecer-se, em prejuízo do direito oficial, a autonomia e a validade do direito penal indígena52 (DPI), isto é, o direito traduzido nos usos, costumes e tradições dos povos indígenas.
Com efeito, e conforme dispõe a Constituição (art. 231, caput), “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Se tomarmos, como devemos, o dispositivo à sério, teremos, então, de reconhecer:
1)A autonomia do DPI; consequentemente, são válidos os julgamentos feitos pelos povos e tribos indígenas, relativamente às infrações cometidas no seu território envolvendo seus membros;
2)Não obstante isso, é possível recorrer-se à justiça comum, nos termos do art. 5°, XXXV, da CF (princípio da inafastabilidade da jurisdição), quer por iniciativa da tribo, quer do próprio imputado, quer por órgão competente (FUNAI, MP etc.);
3)O DPI não é aplicável a conflito envolvendo não-índio, ainda que ocorrido dentro de território indígena;
4)O DPI não incide, em princípio, sobre conflito ocorrido fora do território indígena, ainda que envolvendo índios;
5)O direito penal oficial é acessório/residual, relativamente ao DPI, e não o contrário, pois há de pressupor a impossibilidade de sua aplicação.
E assim deve ser, porque, em primeiro lugar, o direito indígena constitui um dos elementos essenciais de sua organização social, costumes, crenças e tradições, razão pela qual reconhecê-lo é assegurar o poder de autodeterminação/autogoverno dos povos indígenas; e, em segundo lugar, porque negar validade às práticas jurídicas indígenas violaria, claramente, o art. 231 da Constituição.
Diversas constituições preveem, expressamente, a jurisdição indígena, a exemplo da colombiana (art. 246), da peruana (art. 149), da boliviana (arts. 179 e 190), da venezuelana (art. 260), da paraguaia (art. 63) e da equatoriana (art. 171). A Constituição do Equador (art. 76, 7, i) veda, inclusive, de modo explícito, a possibilidade de duplo julgamento (ne bis in idem): “Ninguém poderá ser julgado mais de uma vez pela mesma causa e matéria. Os casos decididos pela jurisdição indígena deverão ser considerados para este efeito.” Idem, o art. 9° da Convenção 169 da OIT (2004) e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007) assegurou-lhes, entre outros, o direito à autodeterminação, aí incluídas a conservação e o reforço de suas instituições jurídicas (arts. 4° e 5°). Aliás, já o art. 57 da Lei n° 6.001/73 (Estatuto do Índio) dispunha de modo similar.
Efetivamente, ninguém está em melhor condição de julgar o índio do que a própria comunidade indígena em que se deu o conflito. E mais legitimamente. Tolerar que o índio continue a ser julgado segundo o direito oficial é tão injusto e inadequado quanto o contrário: permitir que os não-índios fossem julgados de acordo com o direito indígena. Ofende-se, assim, o princípio da igualdade ao negar o direito à diferença e ao tratar como iguais os desiguais.
A intervenção do direito penal estatal – mínima, subsidiária e excepcional – deve, por conseguinte, ficar limitada àquelas hipóteses em que o DPI impuser condenações que violem manifestamente direito fundamental (v.g., aplicação da pena de morte).
Quando, fora das hipóteses inicialmente indicadas, houver de incidir o direito penal oficial, o índio responderá nos termos da Constituição, dos tratados e acordos internacionais e da legislação penal em vigor, que lhe dão tratamento jurídico especial.
Como é óbvio, a responsabilidade penal do índio pressupõe o cometimento de infração penal (crime ou contravenção) com todos os seus elementos constitutivos (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). Trata-se, porém, de um processo de imputação (objetiva e subjetiva) que, além de considerar a singularidade da cultura indígena, terá de levar em conta a especificidade do tratamento constitucional e legal, notadamente o estatuto do índio.
Justamente por isso, não há, em princípio, fato típico quando o agente pratica conduta de acordo com suas tradições, costumes e crenças. Assim, por exemplo, não existe estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) no âmbito de certas comunidades indígenas onde o acasalamento ocorre antes de 14 anos de idade. Cuida-se de fato atípico. Nem é típica a pesca ou caça, entre outras atividades inerentes à tradição indígena, que poderiam (em tese) configurar crime ambiental.
A atipicidade decorre da circunstância de o índio não poder figurar como sujeito ativo/passivo desses delitos, por força do tratamento jurídico especial que lhe é dado. Mas outras soluções dogmáticas são igualmente admissíveis: ausência de dolo etc., até porque conduzem, em princípio, ao mesmo resultado prático: a absolvição pura e simples.
Naturalmente que essa relação entre proteção de direitos fundamentais e respeito à diversidade étnica e cultural – a refletir diretamente sobre a definição social e legal de crime – é das mais tensas e problemáticas, razão pela qual suscitará, frequentemente, questões de constitucionalidade. Basta lembrar que a prática do infanticídio ou homicídio53 (objeto do PL 1057/2007 ou Lei Muwaji), motivado pelas mais diversas razões (deficiência física ou mental, gêmeo, filho de mãe solteira etc.), tem sido registrada em diversas etnias.54
O mesmo vale, mutatis mutandis, para a verificação da ilicitude e da culpabilidade, as quais, além de exigirem a presença de todos os pressupostos e requisitos legais, devem ser valoradas de acordo com as peculiaridades da cultura indígena.
No entanto, ao contrário do que pretende a doutrina, a imputabilidade penal do índio não depende do grau de integração à cultura dominante. Como escrevem Ela Wiecko de Castilho e Paula Bajer Costa, “no paradigma da plurietnicidade o grau maior de integração do indígena à sociedade nacional não o descaracteriza com indígena, tampouco exclui a imputabilidade penal”55.
Também Augusto Silva Dias tem que “aparentemente mais favorável e aberta às peculiaridades das formas de vida, esta solução assenta numa visão racista e paternalista que não respeita a diferença de culturas e uma perspectiva multicultural de abordagem dos problemas baseada no valor do pluralismo. Hierarquizando as culturas em ‘civilizadas’ e ‘selvagens’ a concepção que criticamos eleva as primeiras a padrão de vida boa. Consequentemente, os membros das culturas ‘selvagens’ são rotulados de débeis mentais, detentores de um desenvolvimento mental incompleto, incapazes de entender as ‘virtudes’ ínsitas naquele padrão.”56
Com efeito, independentemente do grau de socialização, o índio é, sim, imputável, imputabilidade que há de ser apreciada segundo a sua tradição, e não conforme os valores eurocêntricos da cultura dominante. Logo, não é incapaz de autodeterminação em razão de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas plenamente capaz. O índio será inimputável apenas quando portador de transtorno mental grave (CP, art. 26) ou menor de 18 anos.
O que poderá ocorrer eventualmente é a falta de conhecimento da proibição jurídico-penal de que se trata, a ensejar o erro sobre a ilicitude do fato (CP, art. 21), vencível ou invencível, conforme o caso, a ser aferida mediante laudo antropológico.
Evidentemente que o índio poderá também invocar, e com maior razão, outras excludentes legais ou supralegais de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, sempre que presentes seus elementos constitutivos. O mesmo ocorrerá quanto às causas especiais de isenção de pena ou extintivas da punibilidade (prescrição etc.).
13)Como refutar alegação (infundada) de inépcia da denúncia
1)Inepta é somente a denúncia que narra fato que manifestamente não constitui crime ou que impossibilita, absolutamente, o exercício do contraditório e da ampla defesa, quer por ser incompreensível, quer por omitir dados essenciais. Não o é, porém, a que deixa de mencionar circunstância apenas acidental, secundária ou irrelevante.
2)A acusação deve conter e de fato contém: quem, o que, quando, como e onde.
3)A aptidão ou não da denúncia deve ser avaliada segundo a complexidade ou não da respectiva acusação. Não existe inépcia em si mesma, mas inépcia relativamente a uma acusação específica. No caso dos autos, ao imputar o crime de homicídio simples (CP, art. 121, caput), a denúncia refere os elementos essenciais, a saber: 1)quem matou quem; 2)quando e como tal ocorreu (dia x, tal hora, no local tal, usando revólver calibre 38, com dois disparos contra a cabeça da vitima); 4)os meios de prova em que se funda a acusação (pericial e testemunhal); 5)o tipo penal violado (CP, art. 121, caput).
4)Eventuais omissões da denúncia podem ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569). Justamente por isso, se o juiz entender que a denúncia omite circunstância penalmente relevante deve oportunizar a sua regularização, sob pena de rejeição.
5)A denúncia, que não é um texto literário, mas uma peça técnica, deve ser redigida com precisão e concisão.
6)A denúncia deve, obrigatoriamente, ater-se aos fatos investigados, não podendo referir circunstâncias desconhecidas, inexistentes, não apuradas ou irrelevantes. Não é dado ao órgão da acusação fazer imputações ou ilações arbitrárias.
7)A denúncia é feita segundo a perspectiva e as possibilidades reais de quem acusa, com base nos elementos de prova de que dispõe, e não de acordo com a imaginação de quem se defende, a partir de uma investigação ideal.
8)É ilógico e incabível exigir-se, com a denúncia, prova da materialidade e da autoria delitivas – exigência válida apenas para a sentença condenatória -, visto que, com a instauração da ação penal, visa-se precisamente a isso: comprovar-se os fatos articulados na denúncia, por meio da respectiva instrução. O que não se pode admitir, por óbvio, é o recebimento de denúncia manifestamente arbitrária/infundada, seja porque não vem instruída de nenhum elemento de prova, seja porque os elementos de prova inocentam, absolutamente, o denunciado.
9)A defesa, a pretexto de demonstrar a inépcia da denúncia, revela, em verdade, sua própria inaptidão, pois suscita teses manifestamente infundadas e protelatórias.
10)Tanto não há inépcia que o requerente cuidou de antecipar/suscitar as mais diversas alegações de mérito (enumerá-las).
11)De acordo com a jurisprudência, depois de proferida a sentença de mérito, resta superada a alegação de inépcia. Citar precedentes.
11)Nos chamados crimes societários, a jurisprudência é flexível quanto à necessidade de individualização das condutas. Citar precedentes.
12)Se realmente a denúncia omite dado importante, urge aditá-la (CPP, art. 569). Se narra fato que não constitui crime ou incide causa extintiva de punibilidade, cumpre reconhecê-lo e pedir a rejeição.
14)Limites da soberania dos veredictos
Com alguma frequência o tribunal do júri tem decidido pela absolvição de réus que alegam a tese (única) de negativa de autoria, apesar de responder, afirmativamente, às duas perguntas iniciais sobre a materialidade e a autoria delitiva, conclusivas de que foi o réu quem praticou o homicídio ou dele participou. Para alguns autores, essa decisão, embora contraditória, seria legítima em virtude da soberania dos veredictos, razão pela qual os jurados seriam livres para decidirem como quiserem, para além do ordenamento jurídico.
Não estamos de acordo com isso.
É que a assim chamada soberania dos veredictos (CF, art. 5°, XXXVIII57) não constitui um poder de decisão absolutamente incontrastável que permitisse ao tribunal do júri decidir com total liberdade e, pois, sem vínculo algum com o ordenamento jurídico vigente (constitucional e legal), dada a absoluta incompatibilidade de semelhante poder com os fundamentos e princípios que informam o Estado Democrático de Direito (CF, art. 1°).
Com efeito, o poder decisório que se traduz na soberania dos veredictos é, em verdade, um problema de competência cujo alcance é relativamente limitado, pois significa apenas que nenhum juiz ou tribunal, que não o próprio tribunal do júri, pode rever ou modificar suas decisões de mérito, condenatórias ou absolutórias.
Nesse exato sentido, escreve José Frederico Marques:
Se soberania do Júri, no entender da communis opinio doctorum, significa a impossibilidade de outro órgão judiciário substituir ao Júri na decisão de uma causa por ele proferida, soberania dos veredictos traduz, mutatis mutandis, a impossibilidade de uma decisão calcada em veredicto dos jurados ser substituída por uma sentença sem esta base.
Os veredictos são soberanos, porque só os veredictos é que dizem se é procedente ou não a pretensão punitiva.58
A soberania dos veredictos importa, essencialmente, portanto, numa restrição ao poder de revisão das decisões de mérito. Mas também esse poder não é absoluto, pois está sujeito a uma série de limitações que o relativizam grandemente, a exemplo do que ocorre com a revisão criminal (CPP, art. 621), admitida que é para absolver o réu ou atenuar a condenação decretada pelo júri, e com a admissão da apelação, nos casos previstos em lei, a favor e contra o réu.
O tribunal do júri, por conseguinte, como instituição democrática que é, está forçosamente vinculado aos princípios e garantias inerentes ao Estado Constitucional de Direito, porque, do contrário, sua concepção não faria sentido algum nesse contexto. Justamente por isso, são-lhe inteiramente aplicáveis os princípios fundamentais que regem o direito e o processo penal democrático, a exemplo do princípio da legalidade, do devido processo legal, da imparcialidade, do duplo grau de jurisdição etc.
A única (possivelmente) exceção a isso é a dispensa de fundamentação das decisões dos jurados (CPP, art. 489), exceção, aliás, que tem levado alguns autores a propor a abolição pura e simples do tribunal júri, por incompatibilidade com as garantias do Estado de Direito.59
Além do mais, se as decisões do tribunal do júri não comportassem reforma, a pretexto de ofensa à soberania dos veredictos, violar-se-ia, entre outros, o princípio do duplo grau de jurisdição.60
Os limites da soberania dos veredictos são, em última análise, os limites do próprio Estado, portanto.
Em suma, o júri, ele próprio uma garantia constitucional, não é uma instituição fora ou além do Estado Constitucional de Direito, razão pela qual os jurados, como todo e qualquer juiz ou tribunal (togado ou não, leigo ou não), não podem decidir arbitrariamente, isto é, sem nenhum tipo de vínculo seja com a prova dos autos, seja com o ordenamento jurídico.
O júri não é, enfim, uma espécie de juízo ou tribunal de exceção.
Consequentemente, a decisão inicialmente referida incorre em manifesta contradição que a compromete substancialmente, visto que os jurados acabam por afirmar que o réu é e não é culpado de crime de homicídio.
Nesse sentido, convém referir os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o., II E VI DO CPB). ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO PELO TRIBUNAL A QUO, COM A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO PARQUET ESTADUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS FORMULADOS. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA, HAVENDO, CONTUDO, A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, SENDO QUE A NEGATIVA DE AUTORIA FOI A ÚNICA TESE FORMULADA PELA DEFESA. ART. 490 DO CPP. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO, TODAVIA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. O tema relativo à preclusão da matéria deduzida pelo Parquet Estadual em sede de apelação – contradição entre quesitos, com a nulidade do julgamento – não foi submetido à apreciação do Tribunal a quo, consubstanciando sua análise, nesta Corte Superior, inadmissível supressão de instância. 2. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, restou o paciente absolvido, nada obstante o Conselho de Sentença ter reconhecido que as lesões descritas no laudo foram a causa da morte e ter o paciente agido de forma livre e consciente, com vontade de matar, quando desferiu os golpes com instrumento contundente (faca) contra a vítima. 3. In casu, a única tese defensiva foi a de negativa da autoria, conforme consignado na ata de julgamento. Assim sendo, conforme registrou o aresto combatido, a resposta positiva ao quesito relativo à absolvição do réu surge contraditória com o reconhecimento da autoria. 4. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada.
(HC 201000029925, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ – QUINTA TURMA, DJE DATA:16/11/2010.)
HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal ou violação da soberania do Júri Popular, em razão da anulação, pelo Tribunal de Justiça, da decisão absolutória do Conselho de Sentença, alicerçada unicamente na negativa de autoria sustentada pelo réu, se tal argumento não encontra respaldo nos elementos de prova coligidos, evidenciando-se manifestamente contrária ao conjunto fático-probatório apurado na instrução. 2. In casu, além dos depoimentos das testemunhas a respeito da declaração da vítima, que apontou o paciente como o autor dos disparos, que, posteriormente, acabaram levando-a à morte, verifica-se profunda contradição nos depoimentos de seus familiares sobre a hora em que o paciente teria saído de casa naquele dia. 3. Ademais, há outra circunstância peculiar que demonstra a contrariedade admitida pelo Tribunal de origem, qual seja, a resposta afirmativa dos Jurados ao quesito concernente ao cometimento, por parte da testemunha de defesa ANTONIO PAULO SANTANA, do crime de falso testemunho sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo em que o paciente foi absolvido, qual seja, exatamente o álibi por ele apresentado. 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.
(HC 200802486106, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ – QUINTA TURMA, DJE DATA: 22/03/2010.)
15)Carta a um jovem Promotor
Caro Promotor: em resposta às indagações que me fizeste, segue o que penso a respeito.
Bem sabes que, dentre as relevantes funções que agora exerces, está a de acusar, tarefa das mais graves e difíceis, por certo. Pois bem, quando acusares – e tu o farás muitas vezes, pois o teu dever o exige – não esqueças nunca que sob o rótulo de “acusado”, “réu”, “criminoso” etc. há sempre um homem, nem pior nem melhor do que ti; lembra que nosso crime em relação aos criminosos consiste em tratá-los como patifes (Nietzsche). Evita incorrer nessa censura! Acusa, pois, dignamente, justamente, humanamente!
Lembra que, entre os teus deveres, não está o de acusar implacavelmente, excessivamente, irresponsavelmente. Se seguires a Constituição, como é teu dever, e não simplesmente a tua vontade, atenta bem que a tua função maior reside na defesa da ordem jurídica e do regime democrático (CF, art. 127), e não da desordem jurídica, nem da tirania. E defendê-la significa, entre outras coisas, fazer a defesa intransigente dos direitos e garantias do acusado, inclusive; advogá-lo é guardar a própria Constituição, é defender a liberdade e o direito de todos, culpados e inocentes, criminosos e não criminosos.
Por isso, sempre que te convenceres da inocência do réu, não vacila em pugnar por sua pronta absolvição, ainda que tudo conspire contra isso; faz o mesmo sempre que a prova dos autos ensejar dúvida razoável sobre a culpa do acusado, pois, como sabes, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente. Ousa, portanto, defender as garantias do réu, ainda que te acusem de mau acusador, ainda que isso te custe a ascensão na carreira ou a amizade de teus pares. Assim, sempre que o teu dever o reclamar, não hesita em impetrar habeas corpus, em recorrer em favor do condenado, em endossar as razões do réu, e jamais te aproveita da eventual deficiência técnica do teu (suposto) oponente: luta, antes, pela Justiça! Lembra, enfim, que és Promotor de Justiça, e não de injustiça!
E quando te persuadires da correção do caminho a trilhar, segue sempre a tua verdade, a tua consciência, não cede à pressão da imprensa, nem de estranhos, nem de teus pares; sê fiel a ti mesmo, pois quem é fiel a si mesmo não trai a ninguém (Shakespeare), porque não cria falsas expectativas nem ilusões.
Trata a todos com respeito, com urbanidade; sê altivo com os poderosos e compreensivo com os humildes; lembra que quem se faz subserviente e se arrasta como verme não pode reclamar de ser pisoteado (Kant).
Evita o espetáculo, pois não és artista de circo nem protagonista de uma peça teatral; sê sereno, sê discreto, sê prudente, pois não te é dado entregares a tais veleidades;
Estuda, e estuda permanentemente, pois não te é lícito o acomodamento; não esqueças que toda discussão tecnológica encobre uma discussão ideológica; lê, pois, e aplica as leis criticamente; não olvidas que teu compromisso fundamental é com o Direito e a Justiça e não só com a Lei;
Não te julgues melhor do que os advogados, servidores, policiais, juízes e partes, nem melhor do que teus pares;
Não colocas a tua carreira acima de teus deveres éticos nem constitucionais;
Vigia a ti mesmo, continuamente, mesmo porque onde houver uso de poder haverá sempre a possibilidade do abuso, para mais ou para menos; antes de denunciar o argueiro que se oculta sob olhos dos outros, atenta bem para a trave que te impede de te ver a ti mesmo e a teus erros; lembra que as convicções são talvez inimigas mais perigosas da verdade que as mentiras, e que a dependência patológica da sua óptica faz do convicto um fanático (Nietzsche);
Não te esqueças de que, por mais relevantes que sejam as tuas funções, és servidor público, nem mais, nem menos, por isso sê diligente, sê probo, sê forte, sê justo!
![]()