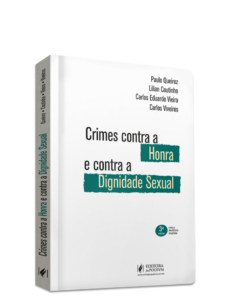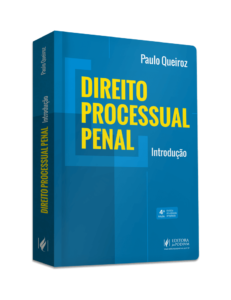Contribuição à história natural do dever e do direito. – Nossos deveres – são os direitos de outros sobre nós. De que modo eles os adquiriram? Considerando-nos capazes de fazer contrato e dar retribuição, tomando-nos por iguais e similares a eles, e assim nos confiando algo, nos educando, repreendendo, apoiando. Nós cumprimos nosso dever – isto é: justificamos a idéia de nosso poder que nos valeu tudo o que nos foi dado, devolvemos na medida em que nos concederam. De maneira que é nosso orgulho que obriga a fazer nosso dever – queremos restabelecer nossa autonomia, contrapondo, ao que outros fizeram por nós, algo que fazemos por eles – pois, ao fazê-lo, eles penetraram na esfera de nosso poder, e nela se conservariam duradouramente, se não efetuássemos, com o “dever”, uma retribuição, isto é, se não penetrássemos em seu poder.
Os direitos dos outros podem se referir apenas ao que está em nosso poder; não seria razoável, se eles quisessem de nós algo que não nos pertence. Colocado de modo mais preciso: apenas ao que eles acreditam estar em nosso poder, pressupondo que seja o mesmo que acreditamos estar em nosso poder. O mesmo erro bem poderia se achar em ambos os lados: o sentimento do dever depende de partilharmos, nós e os outros, a mesma crença quanto à extensão de nosso poder: de sermos capazes de prometer determinadas coisas, de nos comprometermos em relação a elas (“livre arbítrio”) – meus direitos – são aquela parte do meu poder que os outros não apenas me concederam, mas também desejam que eu preserve. Como chegaram eles a isso? Em primeiro lugar, mediante sua inteligência, temor e cautela: seja que esperam algo semelhante de nós em retorno (proteção dos seus direitos), que consideram perigosa ou inadequada uma luta conosco, que vêem toda diminuição de nossa força uma desvantagem para si, pois então tornamo-nos impróprios para uma aliança com eles, no enfrentamento de um terceiro poder hostil. Em segundo lugar, mediante dádiva ou cessão. Nesse caso, os outros têm poder bastante e mais que bastante para ceder parte dele e garantir a parte cedida àquele a quem a doaram: em que se pressupõe exíguo sentimento de poder naquele que se deixa presentear.
Assim nascem os direitos: graus de poder reconhecidos e assegurados. Se as relações de poder mudam substancialmente, direitos desaparecem e surgem outros – é o que mostra o direito dos povos, em seu constante desaparecer e surgir. Se nosso poder diminui substancialmente, modifica-se o sentimento daqueles que vêm assegurando o nosso direito: eles calculam se podem nos restabelecer a antiga posse plena – sentindo-se incapazes disso, passam a negar nossos “direitos”. Do mesmo modo, quando nosso poder cresce consideravelmente muda o sentimento daqueles que até então o reconheciam, e cujo reconhecimento não mais necessitamos: eles tentarão empurrá-lo até seu nível anterior e desejarão intervir, nisso invocando seu “dever” – mas é palavreado inútil.
Onde o direito predomina, um certo estado e grau de poder é mantido, uma diminuição ou um aumento é rechaçado. O direito dos outros é a concessão, feita por nosso sentimento de poder, ao sentimento de poder desses outros. Quando o nosso poder mostra-se abalado e quebrantado, cessam os nossos direitos: e, quando nos tornamos muito mais poderosos, cessam os direitos dos outros sobre nós, tal como os havíamos reconhecido a eles até então – O “homem justo” requer, continuamente, a fina sensibilidade de uma balança: para os graus de poder e direito, que, dada a natureza transitória das coisas humanas, sempre ficarão em equilíbrio apenas por um instante, geralmente subindo ou descendo: – portanto, ser justo é difícil, e exige muito prática e boa vontade, e muito espírito muito bom.-
Extraído de Aurora, de F. Nietzsche. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 82-83. Tradução de Paulo César de Souza.
![]()