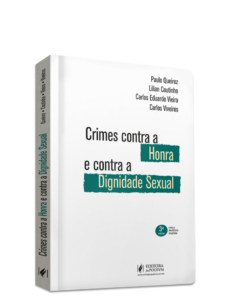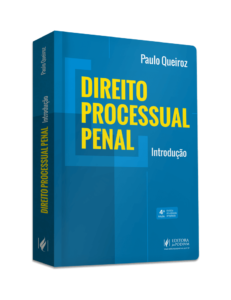Talvez por ser a aplicação da pena tema ordinariamente relegado a plano secundário, freqüentes são os erros quando da sua fixação, consistentes, sobretudo, em revalorar elementos inerentes à estrutura do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade), tomando, assim, como circunstâncias judiciais, os próprios pressupostos da condenação, incorrendo-se em bis in idem.
Quanto à tipicidade, não é incomum que, ao dosar a pena, o juiz, por meio de diferentes recursos lingüísticos, tome como critério de medição dados ou circunstâncias que já fazem parte da própria figura típica. Assim, por exemplo, ao condenar funcionário público por crime contra a administração pública (v.g., peculato, corrupção passiva), afirmar-se que “o réu praticou ação das mais reprováveis, visto que violou a confiança inerente ao exercício da função pública” , como se o fato de ser servidor público já não tivesse orientado a decisão político-criminal do legislador de autonomizar/criminalizar tais condutas, punindo-as, inclusive, mais duramente, precisamente em razão dos deveres inerentes ao cargo/função.
Além disso, ao considerar os motivos do crime aptos a agravar a pena, freqüentemente são tomadas em consideração motivações inerentes à própria infração penal e, pois, já valoradas por ocasião da tipificação, como, e.g., a “libido exacerbada” ou a falta de pudor, nos crimes sexuais; a ganância, a ambição ou o “ganho fácil”, nos crimes patrimoniais; o desprezo à pessoa humana, nos crimes contra a vida etc. Também é comum erigir-se à condição de circunstância judicial aspectos jurídico-penalmente irrelevantes, ferindo-se o princípio da legalidade, tais como: a não-confissão, o não-arrependimento, a fuga do distrito da culpa, a inadequação da conduta etc. Por vezes, ao valorar negativamente as conseqüências do crime, recorre-se aos resultados próprios da conduta criminosa, como, p.ex., em caso de homicídio dizer-se que “as conseqüências do crime foram danosas, pois uma vida foi ceifada”, como se fosse possível homicídio consumado sem a morte da vítima.
Erro freqüente ocorre também na avaliação da culpabilidade. Sinteticamente, pode-se dizer que a culpabilidade é um juízo de reprovação sobre o autor do injusto penal em razão da possibilidade de se lhe exigir, concreta e razoavelmente, um comportamento conforme o direito, de sorte que culpabilidade é exigibilidade, inculpabilidade, inexigibilidade. Acontece que ela tem uma dupla função, pois tanto é requisito do fato punível, quanto é critério de aferição da pena justa. No primeiro caso, faz-se, assim, um juízo de constatação (o réu é culpável, logo o condeno); no segundo, um juízo de medição do grau de culpa (sua culpabilidade é mínima, média ou máxima). E se culpabilidade é exigibilidade e se há diferentes graus de exigência (maior ou menor), não há problema algum em tomá-la em conta, novamente, não como pressuposto da condenação, mas como circunstância judicial, de sorte que quanto maior for a culpabilidade (maior exigibilidade), maior a pena cabível; quanto menor, menor o castigo. Trata-se, enfim, de concretizar o princípio da proporcionalidade – que atravessa todo o ordenamento jurídico -, segundo o qual de quem se pode exigir mais se deve castigar mais, de quem se pode exigir menos se deve castigar menos.
No particular, o equívoco na aplicação da pena consiste em tomar novamente em conta a culpabilidade, não como critério de medição da pena, mas como pressuposto da condenação. Não é infreqüente, por exemplo, afirmar-se que “o réu é culpável, pois tinha plena consciência da ilicitude do fato”, “sabia exatamente o que fazia”, ou, ainda, “agiu livremente”. Ora, não fosse o réu culpável, seria o caso de absolvê-lo ou diminuir-lhe a pena, seja por erro de proibição (inevitável ou evitável) seja por coação física ou moral (irresistível ou resistível).
Por fim, é recorrente a valoração de circunstâncias próprias de um direito próprio do autor, se bem que com algum apoio no Código, que prevê como circunstância judicial a “personalidade do agente”. No particular, não é raro assinalar-se que “o réu tem personalidade agressiva”, “personalidade voltada para o crime”, etc., olvidando-se, primeiro, que nada disso autoriza a condenação de quem quer que seja, razão pela qual tampouco pode justificar a majoração da pena, castigando-se, assim, pela via indireta o que não o é pela via direta; segundo, que, a se permitir que o Estado possa coagir os cidadãos a não serem agressivos, malvados etc., estar-se-ia a confundir direito e moral, punindo o autor não exatamente pelo que fez, mas pelo que é.
Amiúde procura-se, ainda, dar à sentença caráter exemplificador, pretendendo emprestar-lhe efeitos universais, com fins de prevenção geral, principalmente em casos de tráfico de drogas em que se alude a expressões como, v.g., “o tráfico é um mal que assola toda a humanidade e que precisa, por isso, ser exemplarmente punido, para que possamos dar um fim a isso”, aplicando-se, a partir de tal argumento, penas altas em demasia, que não retratam o caso concreto e transcendem, grandemente, o merecimento do autor, pois não se está a julgar, em rigor, o “traficante”, mas o “tráfico”.
![]()