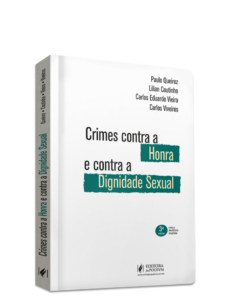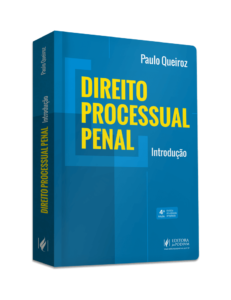Diz Michel Onfray que, apesar do triunfo (aparente) dos ideais do iluminismo, que sonhara com um direto laico e que, portanto, distinguisse e separasse, muito claramente, direito e moral, direito e religião, crime e pecado, ainda hoje a episteme do direito permanece judaico-cristã, pois no essencial se mantém fiel aos seus valores fundamentais. Afirma que, embora os tribunais de justiça da França não possam ostentar símbolos religiosos nem proferir decisões com apoio na Bíblia, no Alcorão ou na Torá, “nada existe no direito francês que contravenha essencialmente as prescrições da igreja católica, apostólica e romana” (tratado de ateología, física de la metafísica, Buenos Aires, ediciones de la flor, 2005, p. 73). Diz mais: o saber e a metafísica do direito provêm diretamente da fábula do paraíso original, versão monoteísta do mito grego de pandora: o homem é livre, e, pois, responsável e culpável; logo, por ser dotado de liberdade, pode decidir e preferir uma coisa a outra num universo de possibilidades (op. cit., p. 73).
Assim, o direito não seria outra coisa senão uma continuação da tradição moral cristã por outros meios, já que todos aqueles que dele se utilizam (legisladores, juízes, promotores, advogados etc.) seriam meros portadores, conscientes ou não, dos valores cristãos; por sua vez, a moral seria a continuação da religião; o conhecimento, um continuum da moral e da religião, embora por meios diversos (Deleuze, Nietzsche e a filosofia, Lisboa, rés-editora, 2001, p. 148). Por conseguinte, a tão propalada separação entre direito e moral, entre direito e religião, entre crime e pecado, seria mais aparente do que real, afinal os dois mil anos de história e dominação ideológica do cristianismo continuariam a forjar os sujeitos, ditando-lhes o modo correto de nascer, viver e morrer.
Naturalmente que, dizendo isto respeito à formação do espírito do próprio homem ocidental, o mesmo se dará com a ética, a estética, a bioética, a política, a filosofia, a pedagogia etc.
Será isso exato, para nós brasileiros, inclusive?
Bem, se tomássemos como referência o livro V das Ordenações Filipinas, que vigorou, entre nós, de 1603 a 1830, típica legislação medieval contra a qual se insurgiria a filosofia das luzes, não se teria nenhuma dúvida a esse respeito, uma vez que ali a confusão entre Estado e Igreja era manifesta, conforme se lê de alguns títulos, como, por exemplo, “dos hereges e apostatas”, “dos que arrenegão ou blasfemão de Deos, ou dos Santos”, “dos feiticeiros”, “dos que benzem cães, ou bichos sem autoridade d’El-Rey, ou dos Prelados” (títulos I, II, III e IV) etc.
Mas poder-se-á dizer o mesmo do Brasil de hoje, que é formalmente uma “República Federativa”, que se constitui em “Estado Democrático de Direito”, Estado secular, portanto, e que tem como objetivos declarados, dentre outros, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (CF, art. 1° e 3°, IV)?
A resposta é decididamente sim!
Desde logo, porque foi o próprio Constituinte que, já no preâmbulo da Constituição, fez consignar que a promulgava “sob a proteção de Deus”; conferiu, ainda, efeitos civis ao casamento religioso; reconheceu a união estável entre o homem e a mulher, e não simplesmente entre pessoas, independentemente da orientação sexual, restrição que terá importantes (e discriminatórias) implicações no direito civil, como, p.ex., sobre a adoção, a sucessão, direitos previdenciários etc., decretando, assim, a clandestinidade das relações entre pessoas do mesmo sexo, tal como a lei mosaica, que dispõe sobre os casamentos ilícitos e as uniões abomináveis. Entre nós, sequer existe a proibição (explícita) de os juízos e tribunais ostentarem símbolos religiosos, razão pela qual não é incomum encontrar o crucifixo exposto em salas de audiência.
Semelhantemente, o Código Penal pune, entre outras coisas, o aborto, a bigamia, a mediação para servir à lascívia de outrem, o favorecimento à prostituição, a casa de prostituição, o rufianismo etc.; o mesmo ocorrendo quando a legislação especial proíbe a produção, o comércio e o uso de droga ilícita, a revelar quão presente está no direito o ideal ascético, próprio do cristianismo. É que no particular o legislador, tal como Moisés, está a nos dizer o que é lícito fazer e não fazer com o corpo, assim como o que é permitido e não permitido consumir/fumar.
No essencial, aliás, as proibições penais coincidem com os dez mandamentos (não matar, não furtar, não prestar falso testemunho).
Também é certo que muitos temas e discussões não avançam ou sequer são colocados em pauta, a exemplo do aborto e da eutanásia, justamente em razão de contrariarem os interesses da Igreja, para a qual a vida é um dom de Deus; logo, um bem jurídico de que não se pode dispor.
Mas isso não é o mais importante; o mais relevante consiste no seguinte: editar uma legislação democrática ou laica não significa, necessariamente, adotar um direito democrático ou laico, sob pena de se confundir discurso e prática, teoria e práxis. É que o direito, uma prática social discursiva, não é só o que as leis dizem, mas, sobretudo, o que dizemos que as leis dizem, ou seja, o direito não é fato, mas interpretação, de sorte que, em última análise, o direito não está nos fatos ou nas normas, mas na cabeça das pessoas. Numa palavra: o direito, tal qual o justo e o injusto, o ético e o estético, é em nós que ele existe, motivo pelo qual, com ou sem alteração dos textos legais, está em permanente transformação. E se de fato somos formados segundo a tradição judaico-cristã, segue-se que o direito expressará, necessariamente, esses valores.
Dito de outro modo: a pretexto de atuarem em nome da lei, juízes e tribunais atuariam, em verdade, em nome de Deus, o Deus do cristianismo. Afinal, embora façamos como se a religião já não houvesse impregnado e penetrado nas nossas consciências, corpos e almas, certo é que falamos, vivemos, amamos, sonhamos, imaginamos, sofremos, pensamos e julgamos segundo o ensinamento judaico-cristã, moldado por mais de dois mil anos de monoteísmo bíblico (Onfray, op. cit., p. 243).
O parecer de Onfray, ateu e hedonista, sobre tudo isso é muito claro: os três monoteísmos, movidos por sua pulsão de morte genealógica, compartem de idênticos desprezos: ódio à razão e à inteligência; ódio à liberdade; ódio a todos os livros em nome de um único (a Bíblica, o Alcorão e a Torá); ódio à vida, ódio ao corpo, aos desejos e pulsões. Em seu lugar, o judaísmo, o cristianismo e o islã defendem a fé e a crença, a obediência e a submissão, o gosto pela morte, e paixão pelo além, o anjo assexuado e a castidade, a virgindade e a fidelidade monogâmica, a esposa e a mãe, a alma e o espírito; e tudo isso significa, em última análise: “crucifiquemos a vida e celebremos o nada” (Onfray, cit., p. 91).
Paulo Queiroz é professor universitário (UniCEUB) e Procurador Regional da República em Brasília, e autor, entre outros, do livro Direito Penal, parte geral, 3ª edição, S. Paulo, Saraiva, 2006.
![]()