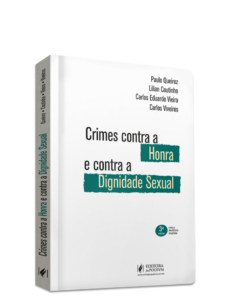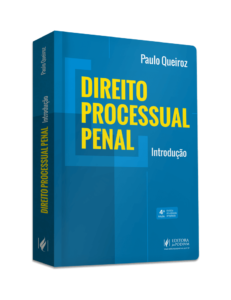De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga, perigosa fábula conceitual que estabelece um “puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, alheio à dor e ao tempo”, guardemo-nos dos tentáculos de conceitos contraditórios como “razão pura”, “espiritualidade absoluta”, “conhecimento em si”; – tudo isso pede que se imagine um olho que não pode absolutamente ser imaginado, um olho voltado para nenhuma direção, no qual as forças ativas e interpretativas, as que fazem com que ver seja ver-algo, devem estar imobilizadas, ausentes; exige-se do olho, portanto, algo absurdo e sem sentido. Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um “conhecer perspectivo”; e quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será nosso “conceito” dela, nossa “objetividade”.
Mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o conseguíssemos: como? – não seria castrar o intelecto?.. Nietzsche. Genealogia da moral, 3ª dissertação, aforismo 12, p. 109. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Apesar de tudo que já se escreveu sobre direito e interpretação, há quem sustente que existe a resposta juridicamente correta ou constitucionalmente adequada. Nesse exato sentido, é o livro de Lenio Luiz Streck, cujo título é: “o que é isto? – decido conforme a minha consciência?”1
O texto pretende combater o “juiz solipsista”,2 uma espécie de Juiz Robinson Crusoé, que decidiria, não segundo a Constituição, mas segundo a sua consciência (e vontade) apenas.
Lenio Streck escreve textualmente: “Desse modo, quando falo aqui – e em tantos outros textos – de um sujeito solipsista, refiro-me a essa consciência encapsulada que não sai de si no momento de decidir. É contra esse tipo de pensamento que volto minhas armas. Penso que seja necessário realizar uma desconstrução (abbau) crítica de uma ideia que se mostra sedimentada (ou entulhada, no sentido da fenomenologia heideggeriana) no imaginário dos juristas e que tem se mostrado de maneira emblemática no vetusto jargão: ‘sentença vem de sentire…’ (para citar apenas um entre tantos chavões, que, como já demonstrei, transformaram-se em enunciados performáticos).”
Em verdade, o autor parte de um falso problema e chega a conclusões igualmente falsas.
Com efeito, a primeira questão reside em saber se existiria de fato um tal juiz/sujeito. Afinal, de acordo com o autor, “…não é mais possível pensar que a realidade passa a ser uma construção de representações de um sujeito isolado (solipsista). O giro ontológico-linguístico já nos mostrou que somos, desde sempre, seres-no-mundo, o que implica dizer que, originariamente, já estamos ‘fora” de nós mesmos nos relacionando com as coisas e com o mundo. Esse mundo é um ambiente de significância; um espaço no interior do qual o sentido – definitivamente – não está à nossa disposição”.3
Se isto é correto, parece então que um juiz solipsista jamais existiu realmente, ainda que ele (o juiz) pensasse decidir isoladamente, com base exclusivamente em sua consciência. E mesmo um Robinson Crusoé, cuja consciência era o resultado de toda a tradição moral, religiosa, jurídica (etc.) que lhe fora ensinada antes do naufrágio que o vitimara, tinha na ilha a companhia de um Sexta-Feira. Tinha, pois, além de seus próprios limites, os limites de um semelhante e da ilha/natureza em que passou a habitar.
Enfim, nem mesmo para Robinson Crusoé é possível falar de “um grau zero de sentido”. E como assinala Gadamer, “não é a história que pertence a nós, mas nós que pertencemos à história. Muito mais do que nós compreendemos a nós mesmos na reflexão, já estamos compreendendo de uma maneira auto-evidente na família, na sociedade e no Estado em que vivemos. A lente da subjetividade é um espelho deformante. A auto-reflexão do indivíduo não é mais que uma centelha na corrente cerrada da vida histórica. Por isso, os pré-conceitos de um indivíduo são, muito mais que seus juízos, a realidade histórica de seu ser”.4
Justamente por isso, carece de sentido a pergunta: “onde ficam a tradição, a coerência e integridade do direito? Cada decisão parte (ou estabelece) um ‘grau zero de sentido’?”.5
Aliás, é o próprio autor quem conclui que “é exatamente por isso que podemos dizer, sem medo de errar, que o sujeito solipsista foi destruído (embora sobreviva em grande parte do ambiente jusfilosófico). Afinal, como diz Gadamer, ‘quem pensa a linguagem já se movimenta para além da subjetividade.”6
Mas não é só. Para Lenio Streck, que cita voto proferido por um certo ministro que afirma não importar o que os doutrinadores pensam, “já como preliminar é necessário lembrar – antes mesmo de iniciar nossas reflexões no sentido mais crítico – que o direito não é (e não pode ser) aquilo que o intérprete quer que ele seja. Portanto, o direito não é aquilo que o Tribunal, no seu conjunto ou na individualidade de seus componentes, dizem que é”.7 Uma das conclusões a que chega é exatamente nesse sentido: “o direito não é aquilo que o judiciário diz que é. E tampouco é/será aquilo que, em segundo momento, a doutrina, compilando a jurisprudência, diz que ele é a partir do repertório de ementários ou enunciados com pretensões objetivadoras.”8
A pergunta que sempre fica é: se o que os tribunais (e juízes) dizem que é o direito, direito não é, o que seria isso então? O não direito, o torto, o arbítrio? E o que seria o direito?
Segundo Lenio Streck, a decisão judicial não é um ato de vontade. O que seria, então? Um ato de verdade, entendida como a resposta constitucionalmente adequada ou similar?9 Mas a verdade, escreveu Nietzsche, “não é algo que existisse e que se houvesse de encontrar, de descobrir – mas algo que se há de criar e que dá o nome a um processo; mais ainda: uma vontade de dominação que não tem nenhum fim em si: estabelecer a verdade como um processus in infinitum, um determinar ativo, não um tornar-se consciente de algo que fosse em si firme e determinado. Trata-se de uma palavra para a ‘vontade de poder’”.10
Precisamente por isso é que Günter Abel diz que não é mais a interpretação que depende da verdade, mas justamente o contrário, que é a verdade que depende da interpretação, pois nos processos de interpretação não se trata, primariamente, de descobrir uma verdade preexistente e pronta, uma vez que não é possível pensar que haja um mundo pré-fabricado e um sentido prévio que simplesmente estejam à nossa disposição aguardando por sua representação e espelhamento em nossa consciência.11
E se existem apenas perspectivas sobre a verdade, não existe, por conseguinte, a verdade; consequentemente, não existe a resposta constitucionalmente adequada (ou correta etc.), mas apenas perspectivas sobre a resposta constitucionalmente adequada.12 A resposta constitucionalmente adequada/correta é uma ficção inútil, portanto. Porque o que quer que possa ser pensado, como quer que seja pensado, por quem quer que seja pensado, sempre poderá ser pensado de diversas outras formas e, por isso, conduzir a resultados também diversos. Quem, à maneira de Narciso, propõe semelhante ficção oculta o essencial: “eu sou a resposta correta”.
E mais, como não há conhecimento humano desinteressado, visto que a vontade de conhecer já constitui, ela mesma, um impulso e um interesse de saber, pensamos, interpretamos e argumentamos estratégica e interessadamente.
Ademais, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o correto e o incorreto não são qualidades daquilo que designamos como tal, mas uma relação (interação) entre o sujeito e a coisa assim designada. Consequentemente, nada existe de legal, justo ou correto em si mesmo, mas apenas perspectivas sobre a legalidade, a justiça e a correção.13
Queiramos ou não, e ainda que em caráter de exceção, quase tudo é, em tese, legitimável – logo, também deslegitimável – por meio do direito. O que é verdadeiramente trágico é saber quando, como e sob que condições isso é possível.
Como assinala Wolfgang Müller-Lauter, todas as interpretações são apenas perspectivas, razão pela qual não há qualquer parâmetro que permita provar qual é a “mais correta” e a “menos correta”; o único critério para a verdade de uma exposição da efetividade consiste se e em que medida ela está em condições de se impor contra outras exposições. Cada exposição tem tanto direito quanto tem poder.14
E o que é (e quem diz qual é) essa resposta constitucionalmente adequada? E o que a torna a resposta adequada, relativamente às demais (não adequadas)?
É certo que Lenio Streck entende existir a resposta correta (não a única), isto é, “adequada à Constituição e não à consciência do intérprete”15, chegando a defender, inclusive, um direito fundamental a isso.16 Mas o que seria de fato a resposta constitucionalmente adequada senão aquela que o próprio intérprete (juiz, tribunal etc.) pretende como tal, segundo a sua perspectiva (consciência etc.)? Como toda pretensão ao universal e, portanto, ao impessoal, a tese da resposta correta oculta a singularidade que a produz.17
Kelsen tinha razão, portanto, quando assinalava que “todos os métodos de interpretação até o presente elaboradas conduzem sempre a um resultado apenas possível, nunca a um resultado que seja o único correto. (…). Na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva.”18
Parece-nos, por conseguinte, que podemos criticar um certo tipo de vontade (v. g., de condenar sem prova, de absolver um culpado etc.), mas não a vontade mesma, que está na raiz de toda decisão (judicial ou não), inevitavelmente. E por mais que consideremos uma determinada decisão (interpretação) arbitrária, incorreta ou injusta, uma coisa é certa: os limites de uma interpretação são dados por uma outra interpretação.
Finalmente, a possibilidade de decisões absurdas ou teratológicas (contra legem) é, em princípio, necessária à democracia. O que diria, com efeito, a doutrina da época sobre a primeira decisão (solipsista?) que, no auge do regime, declarava a nulidade do contrato de compra e venda de escravos, que admitia a adoção por casais homossexuais, que recusava a distinção legal entre filhos legítimos e ilegítimos, que permitia a mudança de sexo etc.?
E mais: a questão fundamental não reside (mais) em saber se a sentença encerra ou não um ato de vontade, se há ou não uma resposta constitucionalmente adequada, mas na legalidade e legitimidade do controle dos atos do poder público, aí incluídas as decisões judiciais.
O direito, como as línguas, nasce mais ou menos inconscientemente e se realiza e se desenvolve mais ou menos arbitrariamente, por mais que os ordenamentos jurídicos tentem moldá-lo e sistematizá-lo.
1. O que é isto – Decido conforme a minha consciência? Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre: 2010.
2. De acordo com o Dicionário Oxford de Filosofia (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, p. 367), solipsismo é “a crença de que, além de nós, só existem as nossas experiências. O solipsismo é a conseqüência extrema de se acreditar que o conhecimento deve estar fundado em estados de experiências interiores e pessoais, e de não se conseguir encontrar uma ponte pela qual esses estados nos dêem a conhecer alguma coisa que esteja além deles. O solipsismo do momento presente estende este ceticismo aos nossos próprios estados passados, de tal modo que tudo o que resta é o eu presente. Russel conta-nos que conheceu uma mulher que se dizia solipsista e que estava espantada por não existirem mais pessoas como ela.”
3. Idem, p. 57.
4. Verdade e Método. Petrópolis: Editora Vozes, 1999, 3. ed.
5. Ibidem, p. 27.
6. Ibidem, p. 58.
7. Ibidem, p. 25.
8. Ibidem, p.107.
9. Em Verdade e consenso (Rio: Lumen Juris, 2007, p. 309), Lenio Streck diz que “…a resposta correta aqui trabalhada é a resposta hermeneuticamente correta, que, limitada àquilo que se entende por fenomenologia hermenêutica, poderá ser denominada de verdadeira, se por verdadeiro entendermos a possibilidade de nos apropriarmos de pré-juízos autênticos, e, dessa maneira, podermos distingui-los dos pré-juízos inautênticos…”. Tem ainda que “na medida em que o caso concreto é irrepetível, a resposta é, simplesmente, uma (correta ou não) para aquele caso. A única resposta acarretaria uma totalidade, em que aquilo que sempre fica de fora de nossa compreensão seria eliminado. O que sobra, o não-dito, o ainda não-compreendido, é o que pode gerar, na próxima resposta a um caso idêntico, uma resposta diferente da anterior. Portanto, não será a única resposta; será sim, ‘a’ resposta.” (idem, p. 317). E mais: “a única reposta correta é, pois, um paradoxo: trata-se de uma impossibilidade hermenêutica e, ao mesmo tempo, uma redundância, pois a única resposta acarretaria o seqüestro da diferença e do tempo (não esqueçamos que o tempo é a força do ser na hermenêutica). E é assim porque conteduística, exsurgindo do mundo prático”(Ibidem, p. 317). Conclui que “em síntese, a afirmação de que sempre existirá uma resposta constitucionalmente adequada – que, em face de um caso concreto, será a resposta correta (nem a melhor nem a única) – decorre do fato de que uma regra somente se mantém se estiver em conformidade com a Constituição…” (idem, p. 364). Em o que é isto? Decido conforme a minha consciência? Lenio Streck volta a afirmar que a resposta que propõe não é nem a única nem a melhor, mas “simplesmente se trata ‘da resposta adequada à Constituição’, isto é, uma resposta que deve ser confirmada na própria Constituição, na Constituição mesma (no sentido hermenêutico do que significa a ‘Constituição mesma’…” (cit., p. 97). Idem, p. 84, nota de rodapé 96, Lenio Streck escreve: “de se ressaltar que, por certo, não estou afirmando que, diante de um caso concreto, dois juízes não possam chegar a respostas diferentes. Volto a ressaltar que não estou afirmando, com a tese da resposta correta (adequada constitucionalmente) que existam respostas prontas a priori, como a repristinar as velhas teorias sintáticas-semânticas do tempo posterior à revolução francesa. Ao contrário, é possível que dois juízes cheguem a respostas diferentes, e isso o semanticismo do positivismo normativista já havia defendido desde a primeira metade do século passado. Todavia, meu argumento vem para afirmar que, como a verdade é que possibilita o consenso e não contrário; no caso das respostas divergentes, ou um ou ambos os juízes estarão equivocados”.
10. Nietzsche. Vontade de Poder. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, p. 288.
11. Verdade e interpretação, in Nietzsche na Alemanha, org. Scarlett Merton, discurso editorial, S. Paulo, 2005, p. 179-199.
12. Nietzsche escreveu: “há muitos olhos. Também a esfinge tem olhos; consequentemente, há muitas verdades e, consequentemente, não há nenhuma verdade”. Vontade de poder, cit., p. 282.
13. Nietzsche escreveu: “até onde vai o caráter perspectivista da existência, ou mesmo se ela tem algum outro caráter, se uma existência sem interpretação, sem “sentido” (Sinn), não vem a ser justamente “absurda” (Unsinn), se, por outro lado, toda a existência não é essencialmente interpretativa – isso não pode, como é razoável, ser decidido nem pela mais diligente e conscienciosa análise e auto-exame do intelecto: pois nessa análise o intelecto humano não pode deixar de ver a si mesmo sob suas formas perspectivas e apenas nelas. Não podemos enxergar além de nossa esquina: é uma curiosidade desesperada querer saber que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver: por exemplo, se quaisquer outros seres podem sentir o tempo retroativamente ou, alternando, progressiva e regressivamente (com o que se teria uma outra orientação da vida e uma outra noção de causa e efeito). Mas penso que hoje, pelo menos, estamos distanciados da ridícula imodéstia de decretar a partir de nosso ângulo, que somente dele pode-se ter perspectivas. O mundo tornou-se novamente “infinito” para nós: na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Mais uma vez nos acomete o grande tremor – mas quem teria vontade de imediatamente divinizar de novo, à maneira antiga, esse monstruoso mundo desconhecido? E passar a adorar o desconhecido como “o ser desconhecido”? Ah, estão incluídas demasiadas possibilidades não divinas de interpretação nesse desconhecido, demasiada diabrura, estupidez, tolice de interpretação – a nossa própria, humana, demasiado humana, que bem conhecemos.” Nietzsche, Friederich. A gaia ciência. S. Paulo: Companhia das Letras, 2009, aforismo 374, p. 278.
14. Wolfgang Müller-Lauter: a doutrina da vontade de poder em Nietzsche. São Paulo: ANNABLUME editora, 1997, p. 131.
15. O que é isto?, p. 101.
16. O que é isto?, p. 84.
17. Leon Kossovitch. Signos e poderes em Nietzsche. Rio de Janeiro: Azougue editorial, 2004, p. 96.
18. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 394-395.
![]()