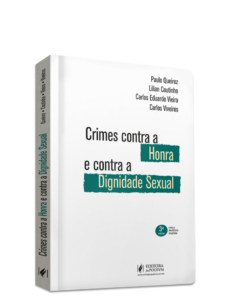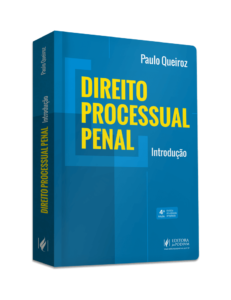“Uma ‘coisa em si’ tão errada quanto um ‘sentido em si’, uma ‘significação em si’. Não há nenhum ‘estado de coisas em si’, contudo um sentido precisa sempre ser primeiro projetado lá dentro para que possa haver um estado de coisas. O ‘o que é isso?’ constitui uma postulação de sentido a partir da perspectiva de algo outro. A ‘essência’, a ‘essencialidade’ é algo perspectivístico e já pressupõe uma multiplicidade. Subjacente está sempre ‘o que é isso para mim?’ (para nós, para tudo o que vive etc.). Uma coisa estaria designada somente quando todos os entes tivessem perguntado e respondido ao seu ‘o que é isso?’. Digamos que falte um único ente com as suas relações e perspectivas peculiares em relação a todas as coisas: e tal coisa não estaria ainda bem ‘definida’. 2(149) Em suma, a essência de uma coisa também é apenas uma opinião sobre a ‘coisa’. Ou melhor: o ‘ela vale’ é o autêntico ‘isso é’, o único ‘isto é’”. 2(150) (Nietzsche, Friedrich. Framentos finais. Brasília: Editora UnB, 2002, p.159).
A definição do que seja o Direito depende, necessariamente, do ponto de vista adotado1. Não obstante, certo é que o que chamamos Direito não é uma coisa, isto é, não tem uma essência, uma substância; não existe ontologicamente, independentemente da representação que fazemos a seu respeito, porque constitui uma criação humana, que nasce e morre com o homem, ou seja, o direito não é sólido, nem líquido, nem gasoso, nem animal, nem vegetal2.
Com efeito, “aquilo que uma teoria do direito objetiva como Direito”, são palavras de François Ewald, “como natureza do direito, como essência do direito, não tem existência real. O Direito – demos-lhe maiúsculas – não existe. Ou antes, não existe a não ser como um nome que reenvia a um objeto, mas serve para designar uma multiplicidade de objetos históricos possíveis – que, como realidades, não têm os mesmos atributos, e que podem mesmo ter atributos irredutíveis”3, de sorte que, assim como não existem fenômenos morais, mas apenas interpretação moral dos fenômenos4, tampouco existem fenômenos jurídicos, mas só interpretação jurídica dos fenômenos, pois nada é onticamente jurídico, lícito ou ilícito, mas socialmente construído.
Conclusivamente, o direito é o que dizemos que ele é, porque o direito, como de resto tudo que diz respeito ao homem, não está no fato ou na norma em si, mas na cabeça das pessoas, de modo que podemos afirmar, parafraseando o evangelho (Lucas, 17:21), que o reino do direito está dentro de nós, e que nós o criamos e recriamos permanentemente, dando-lhe distintos significados a cada momento de sua produção segundo um dado contexto histórico-cultural. Dito de outra forma: o direito e o não direito, tal qual o justo e o injusto, o moral e o imoral, o ético e o estético, é em nós que ele existe5!
É que, afinal, graças à escrita, o discurso se liberta da tutela de intenção do autor, das circunstâncias e da orientação voltada para o leitor primitivo, sendo que a autonomia semântica que resulta dessa tríplice libertação assegura uma carreira independente do texto e abre para a interpretação um campo de exercício considerável6.
Daí que o direito, como o poder, não é uma coisa, mas relações/interações/interpretações, que é algo que se exerce, que se efetua, que funciona como uma máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social7. Constitui, por isso, uma grande simplificação supor que o Estado seja a única fonte de direito ou que o direito se esgote no direito legislado8, já que cada um carrega dentro de si seus micro-sistemas jurídicos, e os faz, ou tenta fazê-los prevalecer, nos seus espaços de interação/exercício de poder.
Dizemos, por exemplo, o direito penal, primeiro, por meio dos processos de criminalização primária que vão culminar na edição de uma lei que diga o que é e não é crime, porque assim o exige o princípio da reserva legal (CF, art. 5°, XXXIX9); segundo, por meio dos processos de criminalização secundária, isto é, através das ações e reações das pessoas e instituições direta ou indiretamente relacionadas com o crime (Judiciário, Ministério Público, Polícia, advogados, imprensa, autor, vítima, parentes etc)10.
Assim, se não há crime nem pena sem lei anterior que o defina, segue-se que, por mais que uma conduta humana seja moralmente reprovável (v.g., o incesto), se não houver lei que a declare criminosa, criminosa não é, sendo jurídico-penalmente irrelevante. É a lei, portanto, que cria o crime, é a lei que cria o criminoso. Numa palavra: crime é só o que o legislador disser que é11.
Mas esse discurso aí não cessa, porque prossegue por meio dos processos de definição e reação social, isto é, os processos de criminalização secundária, que nada mais são do que continuum daquele. É que a rigor a lei nada prescreve, nada proíbe, nada autoriza ou permite, pois a lei prescreve ou não prescreve, proíbe ou não proíbe, autoriza ou não autoriza, permite ou não permite, o que dizemos que ela proíbe, autoriza ou permite, de modo que a lei diz o que dizemos que ela diz12.
Explicando melhor: prescreve a lei que o crime de estupro consiste em “constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça” (CP, art. 213); parece óbvio saber em que reside o crime, pois. No entanto, o que vem a ser “mulher” para efeitos penais? Transexual, por exemplo, pode ser considerada mulher para fins penais, e, portanto, vítima de estupro? Há algum tempo uma conhecida judoca brasileira foi impedida de participar de competição por não ser mulher segundo as regras desportivas: não seria ela então passível de estupro? Práticas sado-masoquistas podem ser consideradas criminosas? Não faz muito tempo, autores importantes afirmavam que o marido não podia responder por crime de estupro contra a esposa, pois, diziam, entre os direitos inerentes ao casamento estava o de o marido poder dela dispor sexualmente, razão pela qual não lhe era dado oferecer resistência lícita13. Não bastasse isso, o Código equipara a estupro violento o “estupro” com “violência presumida”, isto é, praticado contra menores de catorze anos (CP, art. 22414) ou mulher que padeça de alienação mental, o que significa dizer que muitos “namoros” poderão ser interpretados como autênticos estupros (crime hediondo).
Tomemos um outro exemplo. A Constituição veda, expressamente, as “pena de morte” e “cruéis” (CF, art. XLVII15). Mas o que vem a ser pena de morte ou pena cruel? A resposta não é tão óbvia como parece.
É evidente que haverá pena de morte sempre que um juiz ou um tribunal proclamar a culpa de um réu e condená-lo criminalmente à pena capital, seja com um tiro de fuzil, seja por qualquer outro meio. A pena de morte é, enfim, um homicídio levado a cabo pelo Estado, legalmente. Mas veja: o art. 303, §2°, da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), alterada pela Lei n° 9.614/98, bem assim o Decreto n° 5.144, de 16 de julho de 2004, que o regulamentou, previu a destruição de aeronaves “hostis ou suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins”. Pergunta-se: não seria isso pena de morte/cruel por juízo de exceção, constitucionalmente vedada? Apesar disso, apreciando petição que argüia a inconstitucionalidade da aludida lei, o Procurador Geral da República, contrariamente, assinalou que “a medida de destruição não guarda relação com a pena de morte. Aliás, sequer pode ser considerada uma penalidade, porquanto não se busca, com sua aplicação, a expiação por crime cometido. Em realidade constitui, essencialmente, medida de segurança, extrema e excepcional, que só reclama aplicação na hipótese de ineficácia das medidas coercitivas precedentes. É importante frisar que tal medida tem por objeto a preservação da segurança nacional e a defesa do espaço aéreo brasileiro”16. Esse exemplo também demonstra, claramente, que o direito é, em última análise, realização/manifestação de poder.
Aliás, a própria pena privativa da liberdade, que consiste, em geral, no encarceramento do sujeito por anos a fio num ambiente antinatural (artificial), em espaço físico minúsculo, superlotado, sem salubridade, areação, privado quase que integralmente de contato com o mundo exterior, não seria, ela mesma, pena cruel?
Ademais, nenhum comportamento é criminoso em si mesmo, tudo dependendo das reações que desencadeia ou não desencadeia. Assim, se um pai sabe que um seu filho lhe subtraiu valores, provavelmente não tomará isso como um fato criminoso (“furto”), por isso não procurará a polícia, não fará funcionar a máquina estatal; tudo não passará de um problema de família e resolvido em família17. O próprio Código (CP, art. 181, II) prevê isenção de pena sempre que o crime for praticado contra “ascendente ou descendente”. Certamente, reações diversas teriam lugar se, ao invés de um filho, fosse autora do fato a empregada doméstica ou um estranho. De modo similar, o tráfico ilícito pressupõe que a droga seja “substância entorpecente ou capaz de produzir dependência física ou psíquica” (Lei 6.368/76, art. 12), que são as substâncias (ilícitas) assim definidas pelo Ministério da Saúde, um tanto arbitrariamente, dentro de um universo vastíssimo de drogas ou substâncias capazes de produzir dependência física ou psíquica, estando excluídos, por exemplo, tabaco, álcool etc. Mais: o assédio sexual (CP, art. 216-A), embora praticável por qualquer pessoa (crime comum), é um típico crime masculino, pois mui raramente um homem interpreta o assédio feminino como algo ofensivo ou criminoso.
Convém repetir, portanto: o direito é, antes de tudo, relações, interações, interpretações, decisões.
Naturalmente que o mesmo deve ser dito de todas as demais formas de ilícito (civil, trabalhista, administrativo), pois não há diferença relevante (ontológica) quanto ao que seja “violação contratual”, “esbulho possessório”, “justa causa” etc. O direito é um só, e, por conseqüência, a violação ao direito18 (o ilícito).
O direito não é, por conseguinte, somente o que o legislador diz que é; é também o que os juízes dizem que é, a partir e segundo múltiplos discursos de atores sociais múltiplos; é, pois, um discurso, uma prática (social) discursiva, socialmente construída, variável no tempo e no espaço, mais ou menos previsível e, no caso penal (mas não só nele), arbitrariamente seletiva, pois o sistema penal recruta sua clientela, quase sempre, sobre os grupos mais vulneráveis, notadamente autores de crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), típica “criminalidade de rua”, própria de sujeitos socialmente excluídos.
Por isso que o direito não é apenas o que as normas dizem, mas também, e principalmente, o que dizemos que as normas dizem; não é só o dever ser, mas o ser. Tem razão, portanto, Arthur Kaufmann, quando assinala que “só quando a norma e situação de vida, dever e ser, são postos em relação, em correspondência um com o outro, surge o direito real: o direito é a correspondência entre o dever e o ser. O direito é uma correspondência, não tem um caráter substancial, mas sim relacional, o direito no seu todo não é, portanto, o complexo de artigos da lei, um conjunto de normas, mas sim um conjunto de relações”19.
Assim, supor que a lei é o próprio direito seria confundir, v.g., o mapa com o território, o cardápio com a refeição; seria confundir, enfim, discurso e realidade, teoria e práxis, dever ser e ser, mesmo porque o direito constitui uma idéia, um conceito, que reenvia a outros tantos conceitos, que, à semelhança de compartimentos vazios, tem seus conteúdos preenchidos mais ou menos arbitrariamente pelas pessoas e autoridades que participam da sua construção social.
Exatamente por isso, editar uma legislação democrática ou laica não significa, necessariamente, adotar um direito democrático ou laico, sob pena de se confundir discurso e prática, teoria e práxis. É que o direito, uma prática social discursiva, não é só o que as leis dizem, mas, sobretudo, o que dizemos que as leis dizem, ou seja, o direito não é fato, mas interpretação, de sorte que, em última análise, o direito não está nos fatos ou nas normas, mas na cabeça das pessoas, motivo pelo qual, com ou sem alteração dos textos legais, está em permanente transformação.
Aliás, mesmo no âmbito jurídico-penal, ramo do direito em que a dogmática parece ter atingido maior nível de sofisticação, o recurso às categorias da tipicidade, ilicitude e culpabilidade não é capaz de desmentir o que se vem de afirmar. É que, se sob o aspecto material, o delito não existe, segue-se, logicamente, que também o seu conceito formal ou analítico – crime como fato típico, ilícito e culpável – é socialmente construído, de sorte que uma dada conduta será criminosa somente quando dissermos (aceitarmos) que é, um vez que tais categorias remetem a conceitos os mais variados: dolo, culpa, significância/insginificância, causalidade, legítima/ilegítima defesa, estado de necessidade/desnecessidade, coação física/moral/resistível/irresistível, obediência hierárquica, erro de proibição vencível/invencível, embriaguez voluntária/involuntária etc., os quais reenviam, por sua vez, a uma infinidade de conceitos outros, como vida, honra, patrimônio, agressão justa/injusta, intenção, previsão, consciência/inconsciência, boa/má-fé, prova lícita/ilícita, exigível/inexigível, valores, princípios etc. Não bastasse isso, o manuseio de tais conceitos se faz, não raro, de modo francamente arbitrário, como sói ocorrer, por exemplo, nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, formado que é por leigos. De um certo modo, portanto, o direito não passa de uma constelação de metáforas20.
Releva notar, finalmente, que o conceito de direito, como de resto todo conceito, nada diz sobre o seu conteúdo, isto é, nada diz sobre as múltiplas formas que ele pode histórica e concretamente assumir, até porque todo conceito expressa em última análise uma previsão sobre o futuro a partir de uma experiência passada, a demonstrar que definir algo é de um certo modo legislar sobre o desconhecido, afinal, todo conceito é sempre um modo de apreensão formal da realidade; diz respeito às formas, e não aos conteúdos que pode assumir, os quais são variáveis no tempo e no espaço. Numa palavra: o conceito não é a própria coisa conceituada, mas sua representação abstrata, até porque toda forma de conhecimento é sempre uma forma de simplificação da realidade, uma apreensão sempre parcial do mundo e, pois, finita, dentro de um universo de representações possíveis. Talvez se possa dizer inclusive, à maneira de Nietzsche, que “o homem supõe possuir a verdade, mas o que faz é produzir metáforas que de modo algum correspondem ao real: são transposições, substituições, figurações”21.
É que todo conceito, por mais elaborado, tem, dentre outros, os seguintes limites, inevitavelmente: 1)outros conceitos, mais ou menos exatos, mais ou menos amplos, são igualmente possíveis; 2)todo conceito remete a outros conceitos, que remetem a experiências; 3)todo conceito, que é socialmente construído, só é compreensivo num espaço e tempo determinados, motivo pelo qual está em permanente mutação, ainda quando seus termos não são alterados; 4)todo conceito pretende valer para o futuro, mas é pensando e construído a partir de experiências passadas; 5)todo conceito, como expressão da linguagem, é estruturalmente aberto; 6)todo conceito é uma classificação e, portanto, uma simplificação, uma redução; 7)todo conceito está condicionado por pré-conceitos ou pré-juízos; 8)todo conceito é uma convenção.
Em conclusão, podemos afirmar, com Günter Abel, que não é mais a interpretação que depende da verdade (leia-se o direito), mas justamente o contrário, que a verdade depende da interpretação, pois nos processos de interpretação não se trata, primariamente, de descobrir uma verdade preexistente e pronta (leia-se um direito preexistente e pronto), uma vez que não é possível pensar que haja um mundo pré-fabricado e um sentido prévio que simplesmente estejam à nossa disposição aguardando por sua representação e espelhamento em nossa consciência22.
1Conforme se infere de alguns conceitos: “o direito é, pois, o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de um se pode harmonizar com o arbítrio do outro, segundo uma lei universal da liberdade” (Kant, Metafísica dos Costumes, Parte I, p. 36, edições 70); “o domínio do direito é o espírito em geral; aí, a sua base própria, o seu ponto de partida está na vontade livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino e que o sistema do direito é o império da liberdade realizada, o mundo do espírito produzido como uma segunda natureza a partir de si mesmo” (Hegel, Princípios de Filosofia do Direito, p.12, Ed. Martins Fontes, trad. Orlando Vitorino, Martins Fontes, S. Paulo, 1997); “Direito é, pois, a realidade que possui o sentido de estar ao serviço do valor jurídico, da Idéia de direito” (Gustav Radbruch, Filosofia do Direito, p. 86, Armênio Amado Editor, Coimbra, 1997, 6ª edição, tradução de L. Cabral de Moncada); “Direito é a ordenação heterônoma, coercível e bilateral atributiva das relações de convivência, segundo uma integração normativa de fatos segundo valores” (Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, p. 67, Saraiva, S. Paulo, 2005).
2Calmon de Passos, Direito, Poder, Justiça e Processo, p. 67/68, Ed. Forense, Rio, 1999.
3Foucault, a Norma e o Direito, p. 160, Vega, Lisboa, 1993. De modo similar, Calmon de Passos afirma que o Direito “enquanto apenas formulação teórica, enunciado normativo, proposição ou juízo, ainda não é o Direito”, pois “o Direito é o que dele faz o processo de sua produção. Isso nos adverte de que nunca é algo dado, pronto, pré-estabelecido ou pré-produzido, cuja aplicação é possível mediante simples utilização de determinadas técnicas e instrumentos, com segura previsão das conseqüências”, razão pela qual “O Direito, em verdade, é produzido a cada ato de sua produção, concretiza-se com sua aplicação e somente é enquanto está sendo produzido ou aplicado”, Direito, Poder, Justiça e Processo, p. 67/68, Ed. Forense, Rio, 1999. Não por outra razão, afirmava Oliver Wendell Holmes que dizer o que o direito realmente significa é fazer profecias sobre os que os tribunais farão de fato. Textualmente: “the prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by th law”, apud Alexy, el concepto de derecho, cit., p. 23.
4Nietzsche, Para além do bem e do mal, n° 108, p.92, trad.Alex Marins, S. Paulo, Martin Claret, 2002.
5Só assim se explica, por exemplo, que, interpretando a Constituição americana, que vigora há mais de duzentos anos sem alteração no particular, tenha a Suprema Corte entendido, inicialmente, que o racismo era constitucional; mais tarde (década de 50), passou-se a considerar parcialmente inconstitucional; e, finalmente, a partir da década de 70, prevaleceu o entendimento de que o racismo é inteiramente inconstitucional. O que mudou, se o texto da lei é o mesmo desde então? A resposta é simples: o homem que o interpreta!
6Paul Ricouer, in o justo e a essência da justiça, Instituto Piaget, Lisboa, 1995. Afirmação idêntica faz Umberto Eco, para quem “um texto, uma vez separado do seu emissor (bem como da intenção do seu emissor) e das circunstâncias concretas da sua emissão (e conseqüentemente de seu referente implícito), flutua (por assim dizer) no vácuo de um espaço potencialmente infinito de interpretações possíveis. Conseqüentemente, texto algum pode ser interpretado segundo a utopia de um sentido autorizado fixo, original e definitivo. A linguagem sempre diz algo mais do que o seu inacessível sentido literal, o qual já se perdeu a partir do início da emissão textual, in os limites da interpretação. S. Paulo: Editora Perspectiva, 2000, p. XIV.
7Roberto Machado, por uma genealogia do poder, p. XIV, introdução a Microfísica do Poder, de Michel Foucault, Rio de Janeiro, Graal, 1995.
8Não sem razão, Boaventura de Souza Santos refere, além do direito estatal ou territorial, o direito doméstico, o direito de proteção, o direito da comunidade e o direito sistêmico, classificação que não é exaustiva. O direito doméstico – grandemente informal – é o direito do espaço doméstico, o conjunto de regras, de padrões normativos e de mecanismos de regulação de conflitos que resulta da, e na, sedimentação das relações sociais do agregado doméstico; o direito da produção é o direito da fábrica ou da empresa, o conjunto de regulamentos e padrões normativos que organizam o quotidiano das relações do trabalhado assalariado: códigos de fábrica, regulamentos da linha de produção, códigos de condutas dos empregados etc.; o direito da comunidade, como sucede com o espaço da comunidade, é uma das fontes de direito mais complexas, na medida em que cobre situações extremamente diversas, podendo ser invocado tanto pelos grupos hegemônicos como pelos grupos oprimidos; finamente, o direito territorial ou do estatal é o direito do espaço da cidadania e, nas sociedades modernas, é o direito central na maioria das constelações de ordens jurídicas, sendo que ao longo dos últimos duzentos anos, foi construído pelo liberalismo político e pela ciência jurídica como a única forma de direito existente na sociedade, in Crítica da razão indolente, p. 290 e ss, Cortez Editora, S. Paulo, 2000.
9Prescreve o aludido artigo que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
10Como observa Vera Andrade, “a lei penal configura tão-só um marco abstrato de decisão, no qual os agentes do controle social formal desfrutam de ampla margem de discricionariedade na seleção que efetuam, desenvolvendo uma atividade criadora proporcionada pelo caráter “definitorial” da criminalidade (…) “pois entre a seleção abstrata, potencial e provisória operada pela lei penal e a seleção efetiva e definitiva operada pelas instâncias de criminalização secundária, medeia um complexo e dinâmico processo de refração”, in a Ilusão de Segurança Jurídica, p. 260, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, 1997.
11Apesar disso, tem razão Niklas Luhmann quando, de uma perspectiva distinta, assinala que “o direito não se origina da pena do legislador. A decisão do legislador (e o mesmo é válido, como hoje se reconhece, para a decisão do juiz) se confronta com uma multiplicidade de projeções normativas já existentes, entre as quais ele opta com um grau maior ou menor de liberdade. Se não fosse assim, ela não seria uma decisão jurídica. Sua função, portanto, não reside na criação do direito, mas na seleção e na dignificação simbólica de normas enquanto direito vinculativo. Ele envolve um filtro processual, pelo qual todas as idéias jurídicas têm que passar para se tornarem socialmente vinculativas enquanto direito. Esses processos não geram o direito propriamente dito, mas sim sua estrutura em termos de inclusões e exclusões; aí se decide sobre a vigência ou não, mas o direito não é criado do nada. É importante ter em mente essa diferença, pois de outra forma a concepção do direito estatuído através de decisões pode ser ligada à noção totalmente errônea da onipotência de fato ou moral do legislador. É necessário, em outras palavras, diferenciar entre atribuição e causalidade. A proeminência especial do processo decisório (por instâncias legislativas ou por juízes) e sua relevância na positivação na vigência do direito não podem levar à interpretação como algo criativo ou causal; o direito resulta de estruturas sistêmicas que permitem o desenvolvimento de possibilidades e sua redução a uma decisão, consistindo na atribuição de vigência jurídica a tais decisões”, Sociologia do Direito II, p. 8, Biblioteca Tempo Universitário 80, Rio de Janeiro, 1985.
12Por isso afirma Lênio Luiz Streck que em rigor não existem julgamentos de acordo com a lei ou em desacordo com ela, porque o texto normativo não contém imediatamente a norma (Muller), a qual é construída pelo intérprete no decorrer do processo de concretização do direito, de sorte que, quando o juiz profere um julgamento considerado contrário à lei, na realidade está proferindo um julgamento contra o que a doutrina e a jurisprudência estabelecem como arbitrário. Conclui, então, Lênio, que “é necessário ter em conta que o Direito deve ser entendido como uma prática dos homens que se expressa em um discurso que é mais que palavras, é também comportamentos, símbolos, conhecimentos, expressados (sempre) na e pela linguagem. É o que a lei manda, mas também o que os juízes interpretam, os advogados argumentam, as partes declaram, os teóricos produzem, os legisladores criticam. É, enfim, um discurso constitutivo, uma vez que designa/atribui significado a fatos e palavras”, in Hermenêutica jurídica em crise, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1999, p. 210/211.
13Assim, Nélson Hungria: “questiona-se sobre se o marido pode ser, ou não, considerado réu no estupro, quando, mediante violência, constrange a esposa à prestação sexual. A solução justa é no sentido negativo. O estupro pressupõe cópula ilícita (fora do casamento). A cópula intra matrimonium é recíproco dever dos cônjuges (…). O marido violentador, salvo excesso inescusável, ficará isento até mesmo da pena correspondente à violência física em si mesma (excluído o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porque a prestação corpórea não é exigível judicialmente), pois é lícita a violência necessária para o exercício regular de um direito”, Comentários ao Código Penal, p. 125/126, v.VIII, Forense, Rio, 1959. Assim também, Magalhães Noronha: “as relações sexuais são pertinentes à vida conjugal, constituindo direito e dever recíproco dos que casam. O marido tem direito à posse sexual da mulher, ao qual ela não pode se opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo teto, aceitando a vida em comum, a mulher não se pode furtar ao congresso sexual, cujo fim mais nobre é o da perpetuação da espécie. A violência por parte do marido não constituiria, em princípio, crime de estupro, desde que a razão da esposa para não aceder à união sexual seja mero capricho ou fútil motivo, podendo, todavia, ele responder por excesso cometido”, Direito Penal, p. 70, V. 3, Saraiva, S. Paulo, 27ª edição, 2003.
14Diz o referido art. 224 do Código Penal que “presume-se a violência, se a vítima: a)não é maior de 14(catorze) anos; b)é alienada mental, e o agente conhecia esta circunstância; c)não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência”.
15Diz o artigo: “não haverá penas: a)de morte, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; e)cruéis”.
16Processo PGR nº 1.00.000.000836/2005-71, pronunciamento subscrito por Cláudio Lemos Fonteles, então Procurador Geral da República, datado de 14/03/2005. Na representação formulada, os autores sustentaram a violação dos seguintes princípios: a)inviolabilidade da vida (art. 5°, caput); b)proibição da pena de morte em tempo de paz (art. 5°, XLVII, a); c)presunção de inocência (art. 5°, LVII); d)proibição de juízo ou tribunal de exceção (art. 5°, XXXVII); e)devido processo legal (art. 5°); f)prevalência dos direitos humanos (art. 4°, II); g)defesa da paz (art. 4°, VI); h)solução pacífica dos conflitos (art. 4°, VII); i)repúdio ao terrorismo (art. 4°, VII); j)legalidade; l) proporcionalidade (art. 5°); e m) inviolabilidade da propriedade (art. 5°, caput).
17Um caso real bem ilustra isso: A foi flagrada por abusar sexualmente de sua filha (B), de dois anos, e por isso foi presa, processada e condenada a 7 anos e seis meses de reclusão por crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214), crime hediondo (Lei 8.072/90). O exame criminológico assim a diagnosticou: “personalidade primitiva, com nível mental baixo e conseqüente imaturidade intelectual e afetiva, que motivam os comportamentos regressivos que emite e que demonstram a dificuldade de adaptação ao meio social. Evidencia baixo nível de tolerância às frustrações, às quais reage com atitudes oposicionistas e agressivas, manifestadas através de descargas emocionais intensas, que refletem a dificuldade de controle sobre os impulsos. Em conseqüência, o processo de Inter-relação social torna-se difícil, sobretudo quando adota atitudes de supervalorização de si mesmo como uma forma de compensar o sentimento de inferioridade que procura dissimular”. Ora, tivesse essa história se passado numa família de classe média ou alta e outro seria o desfecho: certamente, a família submeteria A a tratamento psicológico/psiquiátrico, a sessões de análise ou semelhante, e, no máximo, lhe tiraria, provisória ou definitivamente, a guarda da criança (B). Assim, não haveria polícia, nem crime, nem pena, nem prisão; tudo não passaria de um “problema de família” e resolvido em família.
18Como escreve Hungria, na diversidade de tratamento dos fatos antijurídicos, a lei não obedece a um critério de rigor científico ou fundado numa distinção ontológica entre tais fatos, mas, simplesmente, a um ponto de vista de conveniência política, variável no tempo e no espaço, Comentários, v.1., t.2, p. 29.
19Filosofia do Direito, p. 219, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004. Diz Del Vecchio, no entanto, a partir de postulados kantianos, que a noção universal do direito é anterior à experiência jurídica, aos fenômenos jurídicos singulares, sendo a experiência apenas a aplicação ou verificação daquela forma. Assim, “uma proposição só é jurídica na medida em que participar da forma lógica (universal) do Direito. Fora desta forma, indiferente ao conteúdo, nenhuma experiência jurídica é possível. Sem ela, falta a qualidade que permite adscrevê-la a esta espécie de experiência. A forma lógica do Direito é um dado a priori – ou seja, não empírico – e constitui, precisamente, a condição da experiência jurídica em geral”, in Lições de Filosofia do Direito, p. 344/345, Coimbra, 1979.
20Como disse Nietzsche, se houvesse uma escola para legisladores, seria importante ensinar que palavras como lei, direito, dever, propriedade e crime constituem em si mesmas uma abstração sem valor e à espera de conteúdo, cor e significado de acordo com as circunstâncias particulares que as incrementam, in a minha irmã e eu. Editora Moraes: S. Paulo, 1992, p. 42/43. Convém advertir que se trata de um texto um tanto apócrifo, cuja autoria atribuída a Nietzsche não foi reconhecida por Walter Kaufmann, um de seus maiores estudiosos.
21Roberto Machado. Nietzsche e a verdade. S.Paulo: graal, 2ª edição, 2002.
22Verdade e intepretação, in Nietzsche na Alemanha, org. Scarlett Merton, discurso editorial, S. Paulo, 2005, p. 179/199.
![]()