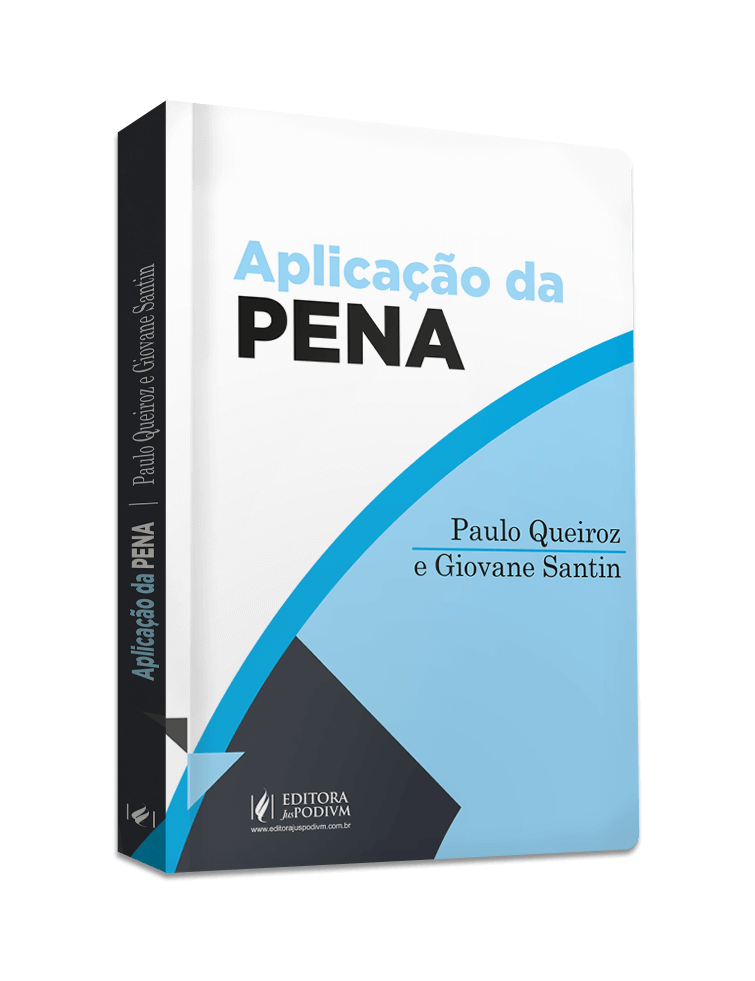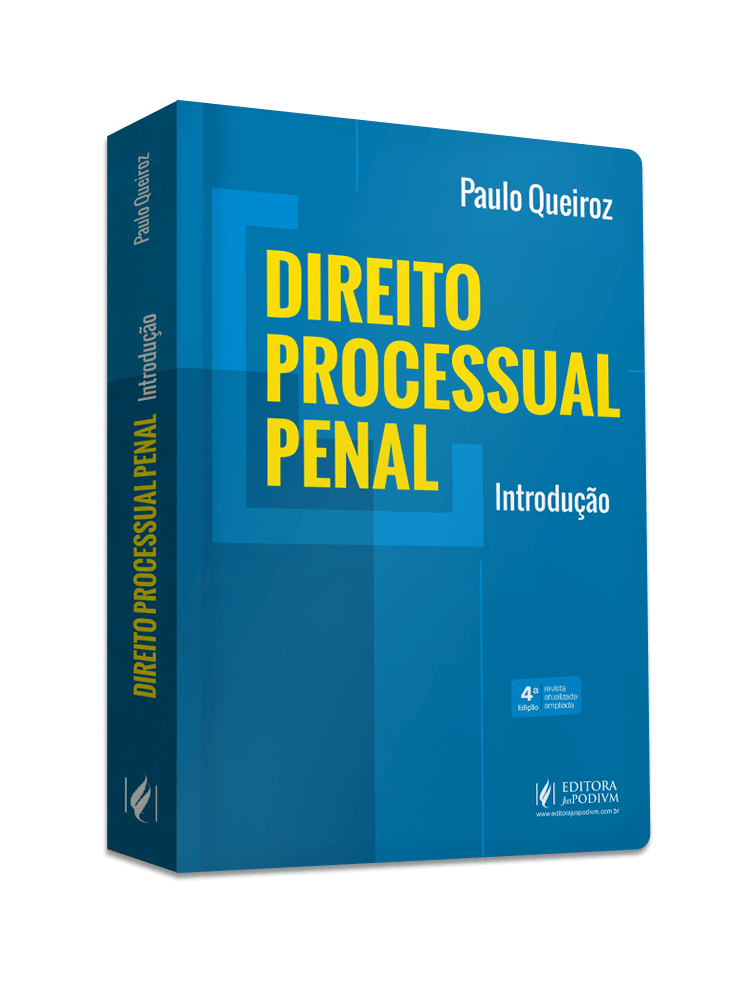1)Professor: Quais foram – e são – suas principais influências (autores e obras)?
De todas as perguntas a que terei o gosto de responder, esta, a primeira, é-me a mais difícil – força-me a falar, com pudor, de mim próprio, e, melancolicamente, de um tempo passado.
Assim, começarei por dizer que não poderei identificar uma “principal influência” ou que, de todas as que evidentemente recebi quando qual tabula rasa cultural ingressei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e depois, a partir daí, procurei definir a minha identidade, não posso em verdade destacar uma ou outra em especial, de modo a ter de confessar que o autor determinante foi este ou aquele ou haver de filiar-me numa particularmente diferenciával corrente de pensamento. Pois se recordo gratamente o inicialmente inspirador neokantismo culturalista de dois meus mestres inesquecíveis – o Professor Eduardo Correia, que me convidou para seu assistente e foi um muito ilustre penalista e de uma estimulante grande altura cultural, e o Professor Cabral de Moncada, prestigiadíssimo professor de Filosofia do Direito de uma importante e subtil reflexão e de cativante brilho literário, e ambos fortemente imbuídos da cultura germânica – seja-me permitido dizer, numa atrevida paráfrase a Terêncio, que, procurando eu próprio pensar, tudo o que fosse pensamento relevante não me foi estranho. Isto não por sincretismo, a que sou de todo avesso e fortemente censuro, mas porque cedo reconheci o meu problema e defini os meus objectivos de reflexão, e a um e a outros totalmente me consagrei. O meu problema não era o de uma qualquer dogmática jurídica, mas o da prática e concreta realização problemático-judicativa do direito versus os tradicionais normativismo e racionalismo jurídicos, de herança moderna, e os meus objectivos os implicados na necessária revisão e reconstituição do pensamento jurídico que fosse coerente e pudesse assumir aquele problema – alargado depois, como imprescindível e pressuponente consequência, à recompreensão do sentido do próprio direito. Numa palavra, o meu problema era, temariamente, o problema do direito. E esse tinha eu que o pensar com autonomia, pois o que ia encontrando nesse sentido não me satisfazia – embora não fosse evidentemente possível essa tentativa sem o enriquecimento cultural e reflexivo que, sem limites e empenhadamente, procurava nos grandes autores e nas mais relevantes correntes de pensamento. Foi assim que quando parti para Munique, por sugestão de Eduardo Correia, para trabalhar junto do Professor K. Engisch, de quem lera, além de parte dos seus estudos de dogmática penal e dos ensaios filosófico-jurídicos, especialmente a Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit (mais erudita e exaustivamente informativo do que outra coisa), já levava esboçada a monografia Questão-de-facto – Questão-de-direito, que viria a ser a minha dissertação de doutotamento em Coimbra – monografia onde aquele problema e aqueles objectivos já estavam presentes e eram o seu verdadeiro objecto de investigação. E do mesmo modo daí em diante e em todos os meus trabalhos posteriores até hoje: os mais diversos contributos culturais e em todos os planos, filosófico e lógico, epistemológico e metodológico, histórico e sociológico, crítico-cultural e linguístico-analítico, e ainda certamente estritamente jurídico, não chegaram a criar uma “influência” a que me submetesse e seguisse como epígono , mas simplesmente um estímulo crítico à minha própria reflexão. Nesse sentido podia referir inúmeros autores, obras e contributos – como os meus estudos amplamente mostram -, mas não me é possível destacar desse enorme acervo preferentemente este ou aquele – todos foram importantes e nenhum decisivo. O que fez com que tudo fosse afinal mais difícil – e solitário…
2)Professor: a doutrina costuma distinguir interpretação e integração do direito, e, em consequência, interpretação e analogia. O que o Senhor pensa a respeito desse assunto?
O que penso sobre este tema está escrito nalguns dos meus textos: Interpretação jurídica, in Digesta, 2º., 370,ss.; O princípio da legalidade criminal, in Digesta,1º, …; Metodologia jurídica, 83,ss., e passim; O actual problema metodológico da interpretação jurídica, …. E o que tenho concluído é que essas distinções implicavam o pressuposto, certamente tradicional desde o textualismo medieval, da compreensão só textual da interpretação jurídica: o texto, na sua significação expressivo-comunicativa, seria não só o objecto dessa interpretação – a qual seria assim ou exegético-filológica ou exegético-hermenêutica – como delimitaria, pelos sentidos possíveis da sua “letra”, o âmbito objectivo e diferenciável da interpretação relativamente à “integração”, a qual já operaria para além desses sentidos possíveis. Ao que acrescia o entendimento, consequência ainda desse textualismo, de que a interpretação era a determinação da significação textual enquanto tal ou da significação que o texto em si exprimia e transmitia, pelo que a interpretação se esgotaria nessa determinação e desse modo se distinguiria da posterior “aplicação” do sentido significantemente jurídico assim obtido. Só que, se por um lado aquela determinação prévia e imediata dos “sentidos possíveis” da letra do texto interpretando se devia reconhecer linguisticamente impossível – não há um sentido prévio e determinante da interpretação, e sim os sentidos que resultem da interpretação -, por outro lado, e decisivamente, há que superar essa compreensão textual por uma compreensão normativa – é essa a minha tese e posição – e a dizer, no fundo, que a interpretação jurídica tem essencialmente um sentido problemático-judicativo concreto e, nesses termos, os interpretativos sentidos jurídicos de quaisquer fundamentos ou critérios jurídicos que se mobilizem judicativamente apenas se obtêm no próprio juízo em que operem como fundamentos ou critérios (como que numa circularidade de ponderação jurídico-normativa em função do problema jurídico concreto judicando), assim como toda a interpretação será, já por isso, normativamente constitutiva em concreto, tal como normativamente constitutivo será sempre o concreto juízo jurídico. E daí ou neste continuum normativamente judicativo não há delimitações ou fronteiras formais entre “interpretação”,“aplicação” e “integração” – a interpretação é sempre “aplicação”, com ser sempre concretamente judicativa, e não menos sempre “integração”, mais ou menos ampla, com ser sempre também normativamente constitutiva. O que, aliás, a “nova hermenêutica” explicitada sobretudo por Gadamer já expressamente reconhece, e invocando justamente o “exemplo” da interpretação jurídica, ao dizer que toda a interpretação é applicatio.
Assim como a “interpretação” e a “analogia” apenas referem duas situações judicativas que só se diferenciam por actuarem num caso por directa mediação dos critérios jurídicos disponíveis com esquemas do juízo (esquemas de hipotética ou condicional solução), no outro caso por ser já indirecta essa mediação, mas em ambos os casos com um mesmo fundamental sentido problemática e concretamente normativo-judicativo. Pelo que a querer continuar a falar de “interpretação” e de “analogia”, não significará todavia isso a distinção entre dois problemas metodológico-juridicos de todo distintos, mas quando muito dois graus (dois graus de problemática e normativa constitutividade) de um mesmo sentido normativo-judicativo fundamental. Vai isto explicitado desde logo no meu O princípio da legalidade criminal.
3)Professor: Nietzsche escreveu: “minha sentença principal: não há nenhum fenômeno moral, mas, antes, apenas uma interpretação moral desses fenômenos. Essa interpretação é, ela própria, de origem extramoral”. O Senhor concorda com isso? Seria possível dizer que “não existem fenômenos jurídicos, mas apenas uma interpretação jurídica dos fenômenos” ?
O reproduzido enunciado de Nietzsche tem decerto coerência na perspectiva do seu pensamento. Excluído pelo seu radical imanentismo (de base biológica, bem se sabe) e em que a vontade (seja ela sempre ou não Wille zur Macth) postularia a exclusão de quaisquer fundamentos ontológicos que ao homem se impusessem como uma indisponível transcendência, num qualquer pressuposto metafísico-ontológico, e, menos ainda, implicitamente, postulassem a objectiva universalidade de uma qualquer ética, compreende-se que pudesse Nietzsche dizer que, no seu aparente ou fenomenológico transcender de objectiva pressuposição, os fenómenos morais, fossem eles instituições, acções ou situações morais, mais não seriam do que objectivações de “interpretações “ humanas da realidade prática referidas à livre e absoluta vontade, ela própria ou só ela o absoluto transmoral.
Quanto aos fenómenos jurídicos, reconhecer-se-á, por outra razões que não significarão a assunção da “metafísica” de Nietzsche, que não se lhes possa também afirmar uma substantividade própria em que se sustentassem absolutamente. E de qualquer modus que fosse – fosse ele ontológica, como postularia o jusnaturalismo clássico, fosse ele fenomenológica e intencionalmente eidético, como p. ex. em Reinach ou em G.Husserl (v. Questão-de-facto – Questão-de-direito, 635,ss.), fosse ele uma qualquer “natureza das coisas” (v Ibid., 760, ss.). E não por quaisquer dessas eventuais posições, porque – e dito com toda a simplicidade – o direito e os respectivos fenómenos jurídicos adquirem decerto uma objectividade histórico-cultural, mas essa objectividade referível é o resultado também histórico-cultural da poiésis normativo-constitutiva que invoca a validade jurídica, na sua autónoma normatividade jurídica e historicidade cultural, e enquanto nesses fenómenos se objectivam as soluções que os problemas jurídicos historicamente vão obtendo com fundamento nessa validade – no fundo e na verdae como resultado, se o quisermos dizer com S. Fish., de uma “interpretação” jurídica da realidade humano-social. Pelo que não se podem pensar no seu último sentido se não em referência a esse constituens normativo. Não por referência a uma vontade absoluta, mas por referência constituinte a uma intencionalidade normativo-cultural de uma historicidade constitutitva, simultaneamente condicionada e autónoma.
4)O Sr. concorda com a tese defendida por alguns autores de que as possibilidades de interpretação são infinitas? Existem limites à interpretação? Quais são esses limites?
Essa tese, referida pela pergunta, bem se sabe ir sustentada numa certa perspectiva, seja hermenêutica, seja semiótica, da interpretação de textos, e textos literários antes de mais. Pois superada hoje uma qualquer referencial substantividade linguística, tudo se determinaria pela relação dinâmica entre texto e leitor. Na hermenêutica, pela contínua variação das pré-compreensões culturais; na semiótica, segundo três modalidades possíveis: a de intentio auctoris, a de intensio operis e a de intentio lectoris. E se cada pré-compreensão implicaria uma diferente interpretação, também em cada uma destas modalidades seria pensável uma infinidade de interpretações. Na intentio auctoris, mesmo nessa, porque o autor não previria todas as possibilidades da significação (da intenção significativa) que se propusera com o seu texto, desde logo pela contínua alteração das circunstâncias nela invocáveis e para ela relevantes; na intentio operis, porque a significação do texto, na sua objectividade, seria sempre contextual, como também o mostra a hermenêutica, e assim com indeterminável variação dos contextos, além de se haver ainda de considerar a infinita abertura da linguagem expressiva; na intentio lectoris, a própria evidência o imporia na infinidade possível de leituras. E então o problema, para além do que imporia a opção entre essas modalidades, estaria em admitir ou não essa infinidade das interpretações, assim prima facie possível. Problema este que, p. ex., U. Eco justamente se põe numa intenção de definir limites a essa infinidade interpretativa, e para que sugere um solução apenas negativa e pouco convincente, com o só dizer que pelo menos uma certa interpretação do texto “não é nem pode ser” aceitável ou justificável. Isto certamente porque o que a semiótica tanto se empenha em abrir dificilmente admitirá fechar-se.
Simplesmente entendo que tudo isto é juridicamente irrelevante, e pela razão simples de que a interpretação jurídica não é apenas interpretação de textos, nem é uma qualquer interpretação susceptível de se submeter a uma “teoria geral da interpretação” ou que uma tal teoria tivesse incondicionalmente de esclarecer e de definir. È certo que desde a jurídica textualidade medieval até ao textualismo legalista os juristas chegaram a pensar que também a eles lhes competia tão-só interpretar textos nos termos gerais. Só que o seu verdadeiro problema, e que eles afinal sempre assumiram na sua prática pelas próprias exigências desta, não é o de explicitar e de determinar significações de textos e ainda que textos jurídicos, mas o de atingir, de modo metodológico-juridicamente específico, que nem é apenas semiótico ou hermenêutico em geral, a normatividade (não a mera significação textual) dos fundamentos e critérios jurídicos vigentemente pressupostos em ordem à decisão concretamente judicativa de casos jurídicos – e nos termos que se podem ver na nossa Metodologia jurídica, 142, ss., 155,ss. E então, se os textos nunca se fecham a diversas interpretações possíveis, já a problemático-concreta decisão juridicamente judicativa deverá ser concludente relativamente ao caso decidendo através de uma fundamentação judicativa que a sustente. Tenho, pois, por errada a comum invocação de sempre possíveis decisões alternativas, porquanto é isso apenas o correlato do abandono, justo abandono, dos esquemas lógico-subsuntivos, a que todavia não seguiu a exigível procura metodológica da fundamentação judicativa. E através desta o caso admitirá só uma solução correcta. Pelo dever-se-á dar razão a Dworkin quando defende a mesma conclusão, embora de um modo já metodologicamente criticável, como julgo ter mostrado.
Decerto que sendo a interpretação uma função problemático-concreta judicativa, a normatividade que ela impute aos mesmos fundamentos e critérios jurídicos será possivelmente diferente em casos decidendos distintos, mas isso não porque a interpretação daqueles fundamentos e critérios seja em si infinita e sim apenas porque os casos que exigem a interpretação, e a exigem correcta, são casos diferentes que, como tais ou na sua diferença, implicam interpretações também diferentes. Devendo ainda distinguir-se aqui dois momentos intencionalmente metodológicos: o momento do ante decisório, em que as alternativas serão hipoteticamente possíveis, e o momento do iter e da conclusio juducativos, em que a decisão judicativa já não admitirá ser outra senão a normativamente fundada e correcta – em que não haverá, pois, alternativa (cfr, Metodologia jurídica, 32, ss., e passim)
5)Com alguma frequência, o Senhor questiona se a interpretação jurídica é um problema hermenêutico ou um problema normativo. O que isso significa exatamente? Qual a repercussão/importância dessa discussão?
Eu pergunto, é certo, se a interpretação jurídica põe um problema hermenêutico ou um problema normativo, mas para dar uma resposta peremptória: a interpretação jurídica é de índole especificamente normativa e não comummente hermenêutica – v. Interp. Jurídica, in Digesta, 2º, 347,s.; Metodologia jurídica,84, ss.; e numa ampla justificação, O actual problema metodológico da interpretação jurídica,45-106, e 286, ss.; e também especificamente versus hermenêutica, Dworkin e a interpretação jurídica…, in Digesta,3º,466,ss.
Reduzindo as coisas ao essencial, e retomando o que já disse na resposta à anterior pergunta nº 4, penso-o assim por uma razão simples, que todavia tem havido dificuldade em entender – tal o peso da desviante tradição dogmatizada. É que o problema da interpretação jurídica não é o de saber o que textual-significativamente consta e se comunica, p. ex., nos textos das leis, em termos puramente exegéticos ou especificamente hermenêuticos e tomados, portanto, esses textos como quaisquer outros textos linguísticos, literários ou culturais em geral, mas o de saber de que modo prático-normativamente se deve aceder e assimilar o sentido normativo-jurídico, a normatividade jurídica, intencionada por esses textos enquanto expressões de fundamentos e critérios jurídicos vigentes, e para que possam ser fundamentos e critérios juridicamente adequados, problemático-juridicamente adequados, de uma “justa” (i.é, com justeza problemático-normativa) decisão dos problemas jurídicos concretos. Pelo que o problema da interpretação jurídica não é um problema de explicitação e compreensão de significados ou sentidos expressivos que se comunicam e considerados apenas nessa comunicação, mas de determinação, problemático-jurídicamente interrogada, de uma normatividade enquanto fundamento ou critério (distinção metodológico-juridicamente importante, esta entre “fundamento” e “critério”) de uma concreta decisão judicativa. A hermenêutica, insista-se, preocupa-se com a explicitação e assimilação compreensivo-comunicativa de textos ou quaisquer outras expressões culturais e no plano estritamente textual-linguístico ou textual-literário e cultural, enquanto a interpretação jurídica se preocupa com a intencionalidade, ou em atingir a intencionalidade normativo-jurídica que as “fontes” jurídicas convocam como fundamentos e critérios também normativo-jurídicos dos decidentes juízos jurídicos. Se ali o problema é o de uma compreensão, aqui é o de um juízo.
E a importância desta diferenciação problemática é dupla. – tem uma importância negativa e uma importância positiva. Negativamente, implica que os modos, os métodos e os critérios (os cânones) da explicitação e compreensão hermenêuticas, sejam semântico-linguísticos, sejam crítico-literários, sejam intencional-culturais, etc., não serão adequados para o acesso e assimilação da normatividade especificamente jurídica a atingir nos fundamentos ou critérios normativo-jurídicos dos problemáticos e concretos juízos decidendos ( cfr sobre isto, desde logo, O sentido actual da metodologia jurídica, in Digesta 3º, 398, ss.). Positivamente, exige a constituição de um modelo, de um método e de critérios jurídico-metodologicamente específicos da interpretração jurídica, nas suas também específicas dimensões, já de pressupostos intencionais, já de racionalidade. Foi o que já tentámos na nossa Metodologia jurídica, 70-81, 142-153, 155, ss., e passim, e é o precípuo objectivo da monografia ainda incompleta O actual problema metodológica da interpretação jurídica.
Só assim, num esforço que vá neste sentido ou análogo, o pensamento jurídico e os juristas assumirão e resolverão, com autonomia crítica e adequação problemática, os seus próprios problemas, sem aguardarem, como que numa orfandade cultural que lhes tem sido tradicional, que outros e noutros domínios culturais lhe ofereçam as perspectivas e as soluções que eles apenas traduzam juridicamente. Também aqui, ou quanto a estes problemas, atrevo um apelo análogo ao que Kant formulou na resposta que deu à pergunta sobre o sentido do iluminismo: sapere aude, saiam também os juristas da menoridade!
6)O Senhor considera o direito uma ciência?
Esta pergunta quero entendê-la num duplo sentido. Um primeiro sentido toma-a literalmente, perguntando-se se o direito se pode considerar em si próprio um ciência; um segundo sentido, e que admito ser sobretudo aquele que se visa, referindo a possibilidade epistemológica não já do direito em si, mas especificamente do pensamento jurídico.
A consideração do próprio direito com “ciência” já teve, é certo, a sua época e será difícil admiti-la actualmente, perante a aprofundada crítica epistemológica dos nossos dias. Com efeito, só numa pressuposição radical da ontológica metafísica jusnaturalística clássica seria possível sustentar que o direito, não obstante a sua normatividade, mais não seria do que assimilação e determinação teorética de uma ordo e de uma nomos ontologicamente essenciais, e assim de uma ontológica normatividade necessária, que o direito apenas reproduziria ou seria chamado a “conhecer”. Só que, e à parte todos os postulados metafísicos aí implicados e hoje sujeitos à maior caução, imputava isso ao direito, enquanto tal, o epistéme aristotélico (o conceito aristotélico de theorie, no seu sentido de determinação com necessidade universal), o que o próprio Aristóteles razoavelmente não fez. Pois se remetia parcialmente, mas mesmo aí sem radicalismos, o direito ao “direito natural” – numa ultima coerência decerto com a sua teleológica ontologia -, o certo é que o domínio do jurídico seria fundamentalmente a praxis, não a theoria, e a sua noésis característica a phronésis, o domínio da acção na sua contingência ponderada segundo os critérios convencionais da Polis. Não estávamos, pois, perante uma estrita adequatio teorética, mas antes perante uma deliberação razoável de que o homem convivente na Polis era responsável.
O segundo sentido da pergunta, a referir a hipotética possibilidade, se não a exigência, de ser o pensamento jurídico uma “ciência”, remeto-nos, bem caracteristicamente, para o cientismo do séc. XIX. Foi a partir de aí e uma vez que então a ciência, a cientificidade, seria o critério da própria validade cultural em geral, que também o pensamento jurídico se passou a preocupar em afirmar-se e pretendia ser reconhecido como “ciência”- a”ciência do direito”. Os juristas acrescentaram então à sua problemática específica, a do problema do direito e dos problemas jurídicos qua tale, um outro problema, o problema epistemológico do seu próprio pensamento jurídico. O positivismo jurídico favorecia decerto essa pretensão, ao postular o direito simplesmente como “dado” e assim com a possibilidade de o pensamento jurídico ver nele apenas um “objecto” de conhecimento – esse pensamento nada mais se proporia do que conhecer o direito (o direito positivo) como objecto, como o seu objecto epistemológico. E se também ao tempo a concepção naturalista, ou tendo por definitório modelo epistemológico as “ciências da natureza”, tornava fortemente problemática essa pretensão (recorde-se expressamente Kirschman, e quaisquer que fossem as reservas que merecesse a sua argumentação), a salvação logo se tentou com base na diferenciação de Dilthey, a distinguir as Naturwissenschaften das Geistenwissenschaften, mas sobretudo depois com a lograda autonomização das “ciências da cultura” (Kulturwissenschaften), devida sobretudo a H. Rickert. Parecia, pois, que o problema estaria assim resolvido: o pensamento jurídico seria uma ciência da cultura, uma cultural ciência do direito positivo – uma culturalmente hermenêutica e sistematicamente dogmática ciência do direito positivo. Assim, e de modo insistente, o sustentou Cabral de Moncada. Só que isso condenava positivisticamente o pensamento jurídico a ser o que na verdade não era, não podia ser nem devia ser: apenas uma neutra determinação sistemática de significações dogmáticas, postuladas numa estrita transcendência objectiva. Pois “ciência” não significa simplesmente “saber” – ou uma mera e indiscriminada referência transsubjectiva – , nem se esgota numa “racionalidade” – uma discursividade de sistemáticos e metódicos contrôle e fundamentação -, pressupõe essencial e estruturalmente uma transcendência objectiva para uma determinação sistematicamente metódica, e projecte-se ou não em consequências operatórias como nos termos hipotético-condicionais da actual tecnociência. Pressupõe um “objecto”, subsistente em si ou postulado como tal, que um “sujeito”, com neutralidade e objectivamente, apenas se propõe determinar, conhecer. E então o direito seria para o jurista tão-só um objectivamente transcendente acervo de significações normativo-dogmáticas por ele a determinar ou a conhecer metódico-sistematicamente na sua própria transcendência objectiva. Ora, por um lado, nem a normatividade jurídica a assumir pelos juristas na sua tarefa prático-normativamente jurídica se esgota nesse platonismo de significações que pura e simplesmente, e com estrita neutralidade teorética, lhes competisse apenas conhecer-determinar, mas antes se traduz numa normatividade de uma regulativa validade a intencionar numa problemática abertura e continuamente constituenda numa prática específica, e que eles tanto intencionam e assumem, ou intencionando assumem, como concorrem a constituir no seu específico assumir do problema prático-normativo do direito nessa prática – essa normatividade jurídica, enquanto traduz a validade jurídica problemática e praticamente constituenda, transcende também praticamente sempre o acervo das significações do direito positivo oferecido com dado e nunca será simplesmente na prática jurídica um mero “dado”. Com o que se reconhecerá que o direito não será, na sua normatividade ou no que na sua prática normativa significa, sem esse assumir constituinte ou continuamente reconstituinte próprio da prático-normativa tarefa jurídica – a tarefa afinal dos juristas, tarefa prático-normativamente comprometida e não apenas de teoreticamente determinante conhecimento de significações dogmáticas. E em nada a isto obsta a tentativa de C.-W. Canaris, com implícito apoio na definição e demarcação de “ciência” pela “falsificação” propostas por K. Popper, de sustentar a viabilidade epistemológica das “teorias jurídicas” (v. Funktion, Struktur und Falsifikation juristische Theorie, in Juristenzeitung,1993, 377,ss.). Pois se nestas teorias não lhe vai menos constitutiva, nos termos aludidos, a normatividade transpositiva da prática e problemático-aberta validade normativo-jurídica e validade jurídica essa, e neste seu sentido, perante a qual se terão sempre também normativo-juridicamente de se justificar essas teorias, do mesmo passo o referente da “falsificação”, que será o direito positivo, não é senão uma objectivação, igualmente sempre contingente e normativo-juridicamente a transcender, numa sua contínua reconstituição problemático-prática, da normatividade da validade jurídica – validade jurídica, repita-se, que cumpre ao pensamento jurídico problematicamente assumir e continuamente reconstituir na sua prática jurídica. As “teorias jurídicas” não traduzem um estrito objectivo teorético, são simplesmente um instrumento normativo inserido numa prática normativa e ao serviço também normativo dessa prática – elas não valem porque são teoreticamente bem definidas, mas porque são jurídico-normativamente “justas” ou juridicamente assumíveis e fundadas no seu sentido normativo (normativo-jurídico) e nas suas consequências práticas (prático-jurídicas). Isto por um lado. Por outro lado, e em que tudo se corrobora e reforça, há que considerar que o direito não tem sentido apenas numa sua pretensa existência abstracta e ideal (queremos dizer, num qualquer platonismo intencional que idealmente fosse objectivamente determinável nos suas significações), e unicamente na sua realização prática e em ordem a ela: a realidade do direito, e em que se decide a sua existência mesmo como direito, só a temos na sua problemático-concreta realização através das decisões judicativas e estas, bem se sabe hoje e como no-lo mostra a actual reflexão metodológica, não são uma mera dedução (subsuntiva) de um direito todo pressuposto e acabado antes delas, um direito de todo conhecido antes delas, e que apenas se tenha logicamente de “aplicar” – nas concretas decisões judicativas manifesta-se, antes e indefectível, uma mediação normativo-juridicamente constitutiva pela própria exigência da concreta problematicidade, do novum concretamente problemático, dos casos decidendos. Mediação normativo-juridicamente constitutiva de que, uma vez mais, os juristas decidentes são em último termo e numa particular autonomia, numa autonomia que se exige fundada e responsável e que é a autonomia mesma do juízo prático, são efectivamente e verdadeiramente os autores. Juízo prático numa concreta intenção à validade do direito que reconhecerá decerto o vínculo e o apoio dos critérios positivos, mas que sempre também as ultrapassa – tal como em qualquer tipo de problemas as soluções concretas mobilizarão fundamentos e critérios já disponíveis, mas para constituir uma solução justificada in casu que se não limita a repetir ou reproduzir esses fundamentos ou critérios, já que entre estes e a solução verifica-se justamente a autónoma (metodologicamente autónoma) mediação resolutiva. E em tudo isto e por tudo o que se disse, não estamos perante uma atitude objectivo-teorética ou de “ciência” e antes pe
rante uma atitude prático-normativa ou de “decisão judicativa”, de juízo prático.
O que, aliás, o mais importante epistemólogo das “ciências da cultura” só nos confirma. É, na verdade, o próprio H. Rickert quem nos diz que as ciências da cultura apenas podem pretender ser “ciência” enquanto se ficam por, ou se limitam a referir a formal “relação a valores” constitutivas dos conteúdos culturais, mas que deixam de ser ciência quando se propõem fazer elas próprias “valorações”, quando formulam “juízos de valor” – que um pensamento que esteja ao serviço de uma prática ou tenha uma intenção normativa, necessariamente se propõe objectivos que ”ultrapassam a tarefa puramente científica” (v. Die Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 321,ss.; 618,ss.). E o que fazem os juristas, o que realmente fazem e devem na verdade eles fazer, na suas tarefas e compromissos prático-jurídicos, na sua actividade normativo-jurídica da prática jurídica, senão “juízos de valor”, juízos prático-normativos? Só o radical positivismo jurídico pôde pensar que os juristas decidiam conhecendo, que decidiam juridcamente limitando-se a conhecer o direito positivo, que entre este e a decisão judicativa não havia kein Problem, como o disse Baumgarten – esquecendo, num verdadeiro prejuízo epistemológico, posto que politicamente aliciado, que a sua tarefa não era meramente conhecer e sim normativa e decisoriamente ajuizar. E quantas vezes a preocupação de fazer “ciência” ou de obedecer à “ideia de ciência” antes que ponderar juridicamente ou de assumir a “ideia de direito”, levou os juristas a sacrificarem os verdadeiros problemas do direito, os que unicamente lhes cumprem – como se pode reconhecer ainda nos mais célebres, como Kelsen, que na sua intenção estritamente epistemológica (recorde-se a sua posição quanto à interpretação jurídica, a traduzir afinal uma verdadeira renúncia) acabou afinal, disse-o justamente Nelson, por fazer ciência do direito sem direito.
7)Como o Senhor gostaria de ser lembrado na posteridade? O que o Senhor considera de mais valioso na sua obra/produção como professor e filósofo do direito?
Esta última pergunta, determinada decerto por uma grande generosidade, tem uma resposta fácil – afinal a mais fácil de todas. Pois apenas me é possível afirmar que não creio, sinceramente, que venha a ter “posteridade” – que uma então memória de mim, e de qualquer modo que seja, a possa garantir. É que só tentei, isso com empenho e autenticidade, como era aliás o meu dever, assumir a minha responsabilidade de professor e de universitário. Pelo que, como Hamlet a Horário na hora derradeira, só poderei dizer: “the rest is silence”.
![]()